|
 |
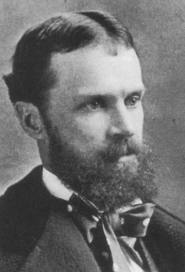 |
 |
|
Charles S. Peirce |
William James |
John
Dewey |
No final do século XIX – período de rápido desenvolvimento do
capitalismo monopolista e de formação do sistema imperialista
mundial – surgiu nos Estados Unidos (país sem qualquer tradição
filosófica até hoje) a chamada “filosofia pragmática”,
apresentada por seus próprios fundadores como “um novo nome para
um velho modo de pensar” (William James).
Seus principais formuladores foram Charles Sanders Peirce
(1839-1914), William James (1842-1910) e John Dewey (1859-1952).
Apesar da sua inconsistência e do seu caráter eclético – com
nuances diferenciadas em Peirce, James e Dewey –, o pragmatismo
rapidamente caiu nas “boas graças” da burguesia monopolista dos
Estados Unidos, que necessitava de uma filosofia que
justificasse o seu expansionismo e o seu domínio sobre o mundo,
apaziguasse seus explorados internos e externos e propagasse o
irracionalismo, desviando a atenção das massas dos grandes
problemas sociais para as questões prosaicas do dia a dia.
A cavaleiro do prestígio adquirido pela “experimentação
científica” e pretextando o justo combate ao pensamento
“metafísico” com suas verdades “absolutas”, “imutáveis” e
“universais”, o pragmatismo – com costumam fazer as distintas
escolas filosóficas burguesas em tempos de “reação em toda
linha” – assumiu, sem meias palavras, velhas e ultrapassadas
filosofias idealistas ou materialistas vulgares, como o
“empirismo”, o “nominalismo”, o utilitarismo e o “positivismo”,
ao mesmo tempo que investiu com volúpia contra a “razão” e o
racionalismo:
“O pragmatismo representa uma atitude perfeitamente familiar em
filosofia, a atitude empírica, mas a representa, parece-me,
tanto em uma forma mais radical quanto em uma forma menos
contraditória (...) Afasta-se da abstração (...) Volta-se para o
concreto e o adequado, para os fatos, a ação e o poder. O que
significa o reinado do temperamento empírico e o descrédito sem
rebuços do temperamento racionalista. (...) O pragmatismo, (...)
não sendo nada essencialmente novo, se harmoniza com muitas
tendências filosóficas antigas. Concorda com o nominalismo
(...), sempre apelando para os particulares; com o utilitarismo,
dando ênfase aos aspectos práticos; com o positivismo, em seu
desdém pelas soluções verbais, pelas questões inúteis e pelas
abstrações metafísicas. Todas essas, vê-se, são tendências
antiintelectuais. Contra o racionalismo, como uma pretensão e um
método, o pragmatismo acha-se completamente armado e militante.”
(JAMES, William. O significado da verdade. In: JAMES, DEWEY,
VEBLEN. Os Pensadores – Vol. XL. São Paulo: Abril Cultural,
1974, pp. 12-13)
“A ‘Razão’, como faculdade apartada, (...) de verdades
universais, começa agora a impressionar-nos como remota,
desinteressante e talvez mesmo insignificante. A Razão (...) que
confere à experiência o poder de generalizar e regularizar, nos
impressiona como supérflua – criação desnecessária do homem
voltado ao formalismo tradicional e à esmerada terminologia.”
(DEWEY, John. A Filosofia em reconstrução. São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 1958, p. 108)
É sabido que a burguesia – outrora revolucionária e racionalista
– transformou-se em sua fase imperialista em uma classe
reacionária e obscurantista, temerosa da “razão”, avessa a uma
análise científica dos grandes dilemas humanos e ao cotejo de
seu comportamento retrógrado com os valores morais
historicamente elaborados pela humanidade.
Para essa burguesia decrépita, a ciência precisa ficar restrita
ao estudo da natureza e à sua aplicação à produção capitalista,
devendo ser expulsa da filosofia e das ciências sociais, onde
devem prevalecer as concepções religiosas, as “ciências
ocultas”, as superstições, a magia e o misticismo. Não por
acaso, o pragmatismo – que tanto propala combater as idéias
“absolutas”, “metafísicas”, “não demonstráveis empiricamente” –
não tem o menor escrúpulo em defender as idéias fideístas e
teológicas como “úteis” e “vantajosas” para a sociedade
capitalista e, portanto, “verdadeiras”:
“O pragmatismo, por mais devotado que seja aos fatos, não tem
essa propensão materialista sob a qual o empirismo ordinário
opera (...) não tem preconceitos a priori contra a teologia. Se
as idéias teológicas provam que têm valor para a vida concreta,
são verdadeiras (...) Que querem dizer os crentes no Absoluto
quando propalam que sua crença lhes proporciona conforto? Querem
dizer que (...) temos o direito (...) de deixar que o mundo vá à
sua própria sorte, na certeza de que seus problemas se acham em
melhores mãos [de Deus] do que as nossas e que não constituem
assunto de nossa alçada. (...) Se as idéias teológicas podem
fazer isso, se a noção de Deus, em particular, prova que pode
fazer isso, como pode o pragmatismo, em sã consciência, negar a
existência de Deus? O pragmatismo não pode ver sentido em tratar
como ‘não verdadeira’ uma noção que foi tão bem sucedida
pragmaticamente.” (JAMES, William. Pragmatismo. In: JAMES,
DEWEY, VEBLEN, Idem, pp. 19-22)
E o “empirista” John Dewey – que bate no peito afirmando que não
têm qualquer sentido idéias ou conceitos que não surjam da
“experiência” e sejam por ela comprovados – não sente vergonha
em afirmar:
“Estas considerações podem ser aplicadas à idéia de Deus ou,
para evitar concepções errôneas, à idéia do divino. (...) Em uma
época desorientada, é premente a necessidade de tal idéia. Pode
ela unir e uniformizar os interesses e as energias agora
dispersas, assim como dirigir a ação, produzir o calor da emoção
e a luz da inteligência. Dar o nome de Deus a essa união, que
age na ação e no pensamento, é uma questão de preferência
individual. Mas a função dessa união ativa do ideal com o real
se parece com as forças que estão de fato ligadas à concepção de
Deus em todas as religiões de caráter espiritual; e uma idéia
clara dessa função se nos afigura urgentemente e necessária no
momento atual.” (DEWEY, John. A Common Faith. New Haven: Yale
University Press, 1934. In: EDMAN, Irwin. John Dewey. Rio de
Janeiro: Fundo de Cultura, 1960, p. 316-317)
Ou seja, se as religiões nos servem de “consolo”, se nos ajudam
a “alienar-nos” e “desresponsabilizar-nos” dos graves problemas
humanos e sociais gerados pelo capitalismo – deixando para
“Deus” a sua solução –, então estarão “empiricamente
comprovadas”, por serem “úteis”, trazerem “resultados”, sendo
(todas!), portanto, “verdadeiras”. A isso se resume a
“comprovação experimental” dos pragmáticos, tão “ciosos” da
ciência. Ridicularizando essa absoluta incoerência dos
pragmáticos, Lenin diz:
“O ‘pragmatismo’ (...) é talvez o ‘último grito da moda’ da
novíssima filosofia americana. (...) O pragmatismo ironiza tanto
a metafísica do materialismo, como a metafísica do idealismo,
exalta a experiência e somente a experiência, considera a
prática como o único critério (...) e ... deduz com toda
felicidade, de todo o anterior, um Deus para fins práticos,
exclusivamente práticos, sem a menor metafísica, sem ultrapassar
de nenhuma maneira os limites da experiência.” (LENIN, V.I.
Materialismo y Empiriocriticismo. Montevideo: Ediciones Pueblos
Unidos, 1959, pp. 382-383)
A "Teoria do Conhecimento" e o "Critério da Verdade" no Marxismo
Antes de examinarmos como a filosofia pragmática concebe o
“conhecimento” e a “verdade”, convém rever de forma sucinta a
concepção marxista acerca dessas mesmas questões, especialmente
porque – pretextando combater a metafísica idealista, suas
idéias a priori e seus conceitos universais e eternos –, o
pragmatismo nega a existência da realidade objetiva,
independente das nossas sensações, e a possibilidade de um
conhecimento que – através da abstração, da elaboração de
conceitos e teorias – ultrapasse a mera experiência sensorial e
empírica.
Para o materialismo dialético, o Universo tem uma existência
real, objetiva, que independe e é anterior ao aparecimento da
consciência humana, a qual, comprovadamente, só veio a surgir
muito recentemente. A consciência e o pensamento são produtos do
cérebro humano, onde a matéria alcançou o seu mais elevado nível
de desenvolvimento. Assim, a matéria é o “primário” (no sentido
de originária) e a consciência (“espírito”) é o “secundário” (no
sentido de surgir a partir do desenvolvimento da matéria). O
Universo é eterno, mas não é imutável, estando em permanente
movimento (mudança, transformação, deslocamento), tanto no
âmbito “material” como no âmbito das “idéias”. Tudo o que existe
se relaciona e interage. A causa essencial de todas as formas de
movimento dever ser buscada nas contradições internas e na luta
de contrários existente em cada “ser” e no “pensamento”.
A partir dessa concepção materialista-dialética do Universo,
como os marxistas explicam o processo de conhecimento humano?
Para o marxismo, a realidade material, ao atuar sobre os nossos
sentidos, gera as sensações, que dependem do cérebro, dos
nervos, da retina, etc., isto é, da matéria organizada de uma
determinada maneira. Ao combinar o conjunto de suas sensações
(visão, tato, audição, olfato, paladar), a consciência humana
constrói a sua “percepção” da realidade. Nesse estágio do
conhecimento – alicerçado nas sensações, ponto de partida
indispensável para qualquer conhecimento real –, o intelecto
humano permanece no âmbito do conhecimento “sensível”,
“empírico” (ao nível da “experiência”), onde a realidade é
percebida em suas manifestações e relações “externas”,
“aparentes”, “secundárias”, “acidentais”, captadas pelos nossos
sentidos, que não conseguem separar o “essencial” do
“fenomênico” nem descobrir as leis do seu movimento e as suas
“relações internas”.
Será somente pela abstração – propriedade da mente que
possibilita a elaboração de representações, conceitos,
categorias e procedimentos lógicos, tendo por base a
generalização e sistematização de múltiplas experiências – que o
intelecto humano ultrapassará o conhecimento puramente sensível,
fenomênico, e alcançará o conhecimento racional e teórico, capaz
de descobrir as leis e as conexões internas que existem na
realidade. Assim, para o marxismo, o conhecimento é um “reflexo
ativo” (ainda que aproximado) da realidade no cérebro humano.
Portanto, o conhecimento só será “verdadeiro” se representar
adequadamente o real. E o critério da verdade é a sua
comprovação através da prática:
“O problema de se ao pensamento humano corresponde uma verdade
objetiva não é um problema da teoria e sim um problema prático.
É na prática que o homem tem que demonstrar a verdade, isto é, a
realidade e a força, o caráter terreno de seu pensamento. O
debate sobre a realidade ou irrealidade de um pensamento isolado
da prática é um problema puramente escolástico.” (MARX, K. Teses
sobre Feuerbach. In: MARX, K. e ENGELS, F. Obras escolhidas,
vol. 3. Rio de Janeiro: Edit. Vitória, 1963, p. 208)
Portanto, a resposta aos agnósticos – que negam ao pensamento
humano a capacidade de conhecer a “coisa em si”, visto que,
segundo eles, só temos acesso às “sensações” que a realidade nos
fornece – será dada através da prática:
“Se podemos demonstrar a exatidão de nossa maneira de conceber
um processo natural reproduzindo-o nós mesmos, criando-o a
partir de suas condições próprias; e se, além disso, o colocamos
a serviço de nossos próprios objetivos, então acabamos com a
“coisa em si”, inacessível, de Kant. As substâncias químicas
produzidas no mundo vegetal e animal continuaram sendo “coisas
em si”, inacessíveis, até que a química orgânica começou a
produzi-las, uma após a outra; com isso, a “coisa em si”
converteu-se em coisa para nós”. (ENGELS, F. Ludwig Feuerbach e
o fim da filosofia clássica alemã. In: MARX, K. e ENGELS, F.
Obras..., Idem, p. 180)
O “conhecimento" e a "verdade" na visão pragamática
Examinemos, agora, como o pragmatismo responde à “questão
fundamental de toda filosofia (...) da relação entre o
pensamento e o ser (...) entre o espírito e a natureza (...) que
relação mantém nossos pensamentos sobre o mundo que nos rodeia
com esse mesmo mundo? Nosso pensamento é, de fato, capaz de
conhecer o mundo real? Podemos com nossas representações e
conceitos sobre o mundo real formar uma imagem exata da
realidade?” (ENGELS, F. Ludwig Feuerbach..., Idem, pp. 179-180)
Para Charles Peirce – fundador do pragmatismo – é impossível
afirmar que o conhecimento é um reflexo da realidade objetiva na
consciência do homem, pois o único que podemos conhecer através
da “experimentação” – afirma, repetindo as surradas teses do
agnosticismo empirista – são as nossas “sensações”. Assim, o
pensamento deve limitar-se em buscar a superação da “dúvida”
(que nos imobiliza) e elaborar uma “crença estável”, uma
“opinião firme”, capaz de dirigir a nossa ação. Por essa razão,
o pragmatismo se auto-proclama a “filosofia da ação”. A questão
de se essa crença corresponde ou não à realidade é rechaçada
pelos pragmáticos como algo impossível de se saber e, portanto,
sem qualquer sentido.
A crença será “verdadeira” se a ação nela alicerçada obtiver
êxito. Em outras palavras, o significado e a veracidade de
qualquer idéia são determinados pela sua utilidade e benefício
para o indivíduo que a adota. O que importa é a convicção com
que cada um assume a sua crença, condição essencial para que
atue com eficácia e alcance o êxito: “Podemos imaginar que
procuramos não só uma opinião, mas uma opinião verdadeira. Mas
(...) tão logo obtemos a fé firme, ficamos plenamente
satisfeitos, seja essa fé verdadeira ou falsa.” (PEIRCE, Ch.
Collected papers, vol. 5, p. 232. Cambridge-Massachusetts,
1958-1960. In: BOLGOMOLOV, A.S. A filosofia americana no século
XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p. 26)
Quanto à questão se o nosso pensamento pode refletir ou não, com
alguma fidelidade, as concatenações reais do Universo e suas
leis, Peirce responde: “Procurai verificar qualquer lei da
natureza e descobrireis que quanto mais precisas forem as vossas
observações, tanto mais definidamente elas mostrarão as
desordenadas infrações da lei (...) Examinai com suficiente
profundidade as suas causas e sereis forçados a admitir que elas
são sempre geradas por uma determinação arbitrária ou pelo
acaso.” (PEIRCE, Ch. Collected Papers, vol. 6, p. 37. Idem, p.
26)
Aqui, Pierce antecipa a idéia – que seus discípulos
desenvolverão ainda mais– de que a realidade é caótica, não
sendo regida por nenhuma lei e que todos conceitos e teorias
elaboradas pelos homens não passam “construções do intelecto”
com o objetivo de “ordenar” os conhecimentos proporcionados pela
experiência humana.
William James – que popularizou o pragmatismo – reforça a visão
de que o único que podemos conhecer são as sensações fornecidas
pelos nossos sentidos, através da “experiência”, e que nossas
“idéias” e “teorias” nada mais são do que criações da mente
humana para colocar “ordem” no caos existente no Universo, cuja
realidade e cujas leis (se é que existem) são inacessíveis a
nós. A partir dessa visão “idealista-subjetiva”, James acusa
como “metafísica” toda e qualquer pretensão do “pensamento
abstrato” em elevar-se acima da mera experiência e do
conhecimento empírico e reduziu o “conhecimento” e a “verdade” a
funções puramente instrumentais e utilitárias, pois para ser
“verdadeiro” basta ser útil (para quem?) e obter “resultados”:
“[a] realidade (...) é o fluxo de nossas sensações (...) Não são
nem verdadeiras nem falsas; simplesmente são. (...) Atrás dos
puros fatos fenomenais (...) não há nada. (...) Nossos
substantivos e adjetivos [“conceitos” e “predicados]” são todos
heranças humanizadas e nas teorias, pelas quais os estruturamos,
a ordem interna e o arranjo íntimo é totalmente ditado por
considerações humanas. (...) o que dele é verdadeiro parece do
princípio ao fim ser amplamente matéria de nossa própria
criação. (...) Os homens engendram verdades para ele. (...)
qualquer hipótese é legítima aos olhos pragmatistas, pois
qualquer tem o seu uso. (...) não podemos rejeitar qualquer
hipótese se daí decorrem conseqüências úteis à vida. (...)
nenhuma hipótese é mais verdadeira do que qualquer outra, no
sentido de ser uma cópia mais literal da realidade. São apenas
maneiras de falar, comparáveis somente do ponto de vista de seu
uso. (...) todas as nossas teorias são instrumental, são modos
mentais de adaptação à realidade.” (JAMES, William. Pragmatismo.
São Paulo: Edit Martin Claret, 2006, pp. 109-145)
“nenhuma teoria é absolutamente uma transcrição da realidade
(...) qualquer delas pode (...) ser útil. (...) são apenas uma
linguagem humana, uma taquigrafia conceitual (...) nas quais
escrevemos nossos informes sobre a natureza (...) O pragmatista
fala a respeito de verdades no plural, sobre sua utilidade e
caráter de satisfação, a respeito do êxito com que “trabalham”
(...) uma idéia é verdadeira na medida em que acreditar nela é
proveitoso para nossas vidas. (...) Verdadeiro é o nome do que
quer que prove ser bom no sentido da crença (...) o que é melhor
para nós é verdadeiro”. (...) é ‘útil porque é verdadeira’ ou
que ‘é verdadeira porque é útil’. Ambas as frases significam a
mesma coisa. (...) Schiller diz que o ‘verdadeiro’ é o que
‘funciona’. (...) Dewey diz que a verdade é o que dá satisfação.
(...) A verdade é feita (...) no curso dos acontecimentos.”
(JAMES, William. Pragmatismo. In: JAMES, DEWEY, VEBLEN, Idem,
pp. 14-30)
De maneira resumida, o pragmatismo afirma que não temos como
conhecer a “realidade”, pois só podemos conhecer nossas
“sensações”. A realidade – se é que existe – é caótica, não
sendo regida por nenhuma lei. As idéias, os conceitos e as
teorias que elaboramos, são meras “criações” humanas, que buscam
dar alguma coerência às nossas sensações. Portanto não existe
“verdade” no sentido da adequação do pensamento ao “real”. A
verdade se resume a qualquer “crença” útil para quem a adota,
que lhe traga “vantagens” e “resultados”.
É difícil encontrar um elogio mais enfático à impotência da
razão e ao irracionalismo!
“Tenhamos crenças firmes, úteis e vantajosas"
Não há dúvidas que o pragmatismo – com sua negação da existência
da “verdade objetiva” e com sua redução da “verdade” a meras
“crenças estáveis” que sejam “úteis” e “tragam vantagens” –
prestou e continua prestando uma enorme ajuda ao imperialismo,
em particular estadunidense.
Certamente a “firme crença” no “destino manifesto” dos Estados
Unidos justificou sua tomada, pela força, de quase metade do
território do México, em 1848, trazendo enormes vantagens para o
país. Da mesma forma, a “forte convicção” (apesar das evidências
em contrário) de que os espanhóis eram os responsáveis pelo
afundamento do encouraçado “Maine”, no porto de Havana, em 1898,
serviu de pretexto para a declaração de guerra à Espanha e para
a imediata e exitosa ocupação do Havaí, Filipinas, Porto Rico e
Cuba, até então colônias espanholas. E a ocupação de Guantánamo
até os dias de hoje é justificada pela “firme convicção” de que
o mar das Caraíbas faz parte do “espaço vital” norte-americano e
que Cuba é uma “ameaça” à segurança dos Estados Unidos... Por
certo, também, a inabalável convicção de boa parte dos
estadunidenses acerca da inferioridade dos negros e da
necessidade da segregação racial para manter os privilégios da
maioria branca proporcionou bases “verdadeiras” às barbáries
cometidas pela Klu Klux Klan e obteve êxito durante longos anos.
Poderíamos continuar exemplificando ad nauseam até onde pode
levar a pregação pragmática de que a verdade se reduz apenas à
sua “utilidade” e “proveito”.
Caberia perguntar – Serve a quem? É útil para quem?
Postura que leva o pragmatismo a
considerar as abstrações, os conceitos, as teorias como criações
“metafísicas” da mente, que não tem correspondência com o real.
A partir dessa visão “idealista subjetiva”, o pragmatismo assume
um “anti-racionalismo militante” e afirma que a única forma de
aferir a “veracidade” de uma “crença” (ao que se reduz o
conhecimento) são os resultados práticos obtidos com a sua
aplicação. Ou seja, se ela levar ao sucesso, for “útil”, trouxer
“proveito” e “vantagens”, será verdadeira! Só o que é eficaz é
verdadeiro. Portanto, se um indivíduo ficar desempregado, não
tiver êxito em suas atividades ou fracassar em seu
empreendimento, não deve buscar a causa disso na lógica
excludente e concorrencial do capitalismo, e sim isso em suas
“crenças errôneas”. Isto é, a culpa será sua...
Nesta segunda parte de nosso
estudo sobre o pragmatismo, examinaremos suas concepções morais,
jurídicas, sociais e políticas.
A "moral" pragmática
Como não podia deixar de ser, a
concepção pragmática de “moral” segue a mesma visão “empírica”
de sua concepção de conhecimento e de “verdade”. Para os
pragmáticos não existem normas ou valores morais – “invenção dos
metafísicos”, segundo eles –, e só o método experimental
permitirá solucionar os problemas que venham a surgir, tendo
como única referência a compreensão de que o “bom” ou o “certo”
é aquilo que é “proveitoso” para o indivíduo e lhe assegura o
êxito:
“No terreno da moral esse método
conduz inevitavelmente ao relativismo ético. O instrumentalismo,
por sua própria essência, rechaça todo gênero de normas morais
obrigatórias para todos (...); os princípios morais são para ele
simples instrumentos, da mesma forma que todos os conceitos em
geral. Desde o ponto de vista do instrumentalismo, a moralidade
de um ato deve ser avaliada somente segundo o êxito com que
resolva cada ‘situação problemática’ moral por separado, isto é,
em essência, de maneira totalmente subjetiva. (...) Em sua
aplicação às relações políticas, o princípio do instrumentalismo
pode ser facilmente utilizado para justificar o aventureirismo
mais desenfreado, a arbitrariedade e qualquer ação violenta na
hora de resolver os problemas políticos.” (YOVCHUK, M.T.,
OIZERMAN, T.I. e SHCHIPANOV, I.Ia. Compendio de Historia de La
Filosofia, vol. 2. Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos, 1969,
pp. 747-748)
John Dewey expressou sem meias
palavras essa concepção pragmática e utilitária da “moral”: “Os
fins e bens morais existem somente quando se tiver de fazer
alguma coisa (...) a moral não é catálogo de atos, nem um
conjunto de regras a serem aplicadas (...) cada situação moral é
situação isolada, inigualável, com o seu mérito ou bem
insubstituível. (...) A felicidade é encontrada unicamente no
êxito. (...) O crescimento, o desenvolvimento em si mesmo é o
único ‘fim’ moral.” (DEWEY, John. A filosofia em Reconstrução
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1958, pp. 164-179).
Analisando esse “relativismo
moral” do pragmatismo, o filósofo marxista mexicano Adolfo
Sanchez Vazques constata:
“No terreno da ética dizer que
algo é “bom” equivale a dizer que conduz eficazmente à obtenção
de um fim, que leva ao êxito. Por conseguinte, os valores,
princípios e normas são esvaziados de um conteúdo objetivo e o
valor do “bom” – considerado como aquilo que ajuda o indivíduo
na sua atividade prática – varia de acordo com cada situação.
Reduzindo o comportamento moral aos atos que levam ao êxito
pessoal, o pragmatismo se transforma numa variante utilitarista
marcada pelo egoísmo; por sua vez, rejeitando a existência de
valores ou normas objetivas, se apresenta como mais uma versão
do subjetivismo e do irracionalismo.” (VAZQUEZ, Adolfo Sanchez.
Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970, p. 254)
E mesmo uma estudiosa simpática ao
pragmatismo – como a cientista política brasileira Thamy
Pogrebinschi – tem que reconhecer que, ao contrário do
utilitarismo de John Stuart Mill, o pragmatismo é puramente
“individualista”:
“Ressalte-se (...) que a idéia de
‘felicidade geral’ ou ‘o maior bem para o maior número’ [de
Stuart Mill] não são em si apropriadas pelo pragmatismo. (...) a
utilidade não é por ele definida em termos de felicidade e
tampouco de felicidade do maior número. O que é útil para o
pragmatismo é simplesmente aquilo que é melhor para cada pessoa.
A utilidade é definida, portanto, em termos instrumentais. (...)
são úteis na medida em que conduzem eficazmente à realização dos
fins dos indivíduos.” (POGREBINSCHI, Thamy. Pragmatismo - Teoria
Social e Política. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2005, p. 67)
E John Shook, apologista do
pragmatismo, confessa: “O pragmatismo é um individualismo, pois
os fins são sempre fins de um determinado indivíduo. (...) Os
valores não existem antes do nosso ato de valoração (...) Não
nos perguntamos se nossas ações estão de acordo com ideais
morais, quando obtemos um bem social (...) Os ideais morais são
valorados por uma sociedade porque serviram no passado para
resolver um conflito; eles podem ser (...) substituídos por
outros ideais, caso venham a falhar na resolução de conflitos
futuros.” (SHOOK, John. Os pioneiros do pragmatismo americano.
Rio de Janeiro: DP&A editora, 2002, pp. 149; 162-167)
Assim, a “moral pragmática” reduz
todos os valores morais – amizade, solidariedade, lealdade,
sinceridade, altruísmo, compaixão, espírito de justiça, coragem,
entre outros – à mera “utilidade” para o indivíduo, examinada em
cada caso concreto.
O marxismo rejeita esse
“amoralismo” pragmático. Os valores morais não são “eternos”,
mas “históricos” e em uma sociedade de classes, assumem um
pronunciado caráter de classe. Isso não significa, porém, que
não existam valores universais, sedimentados ao longo do
processo de evolução da humanidade:
“a aristocracia feudal, a
burguesia e o proletariado possuem cada uma a sua moral
particular (...) Essas três teorias morais representam (...)
etapas distintas de um mesmo processo histórico e por isso têm
um fundo histórico comum, o que faz com que forçosamente elas
contenham toda uma série de elementos comuns. E não é só. Em
fases idênticas ou aproximadamente equivalentes de
desenvolvimento econômico, as teorias morais devem
necessariamente coincidir, numa extensão maior ou menor. (...)
também o mundo moral tem os seus princípios permanentes, que se
colocam acima da história e das diferenças existentes entre os
povos. (...) Que essa evolução se processa sempre, em largos
traços, da mesma forma no campo da moral como nos demais ramos
do conhecimento humano e sempre em um sentido de progresso, é o
que nos parece indubitável.” (ENGELS, F. Anti-Düring. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1976, pp.78-79)
Sem dúvida, o “amoralismo
pragmático” serve como uma “benção” para a grande burguesia
monopolista, que não tem quaisquer escrúpulos nem se detém
diante do uso de qualquer expediente para acumular o capital e
dominar povos:
“Na verdade, se o valor principal
que a moral sustenta é o dinheiro e a riqueza, se a sua obtenção
é considerada como resultado do pragmatismo da pessoa, como será
possível pensar na moralidade dos meios para atingir este
objetivo? (...) A moral burguesa é pela sua própria natureza
hipócrita e dúplice. ‘O dinheiro não cheira’, esta é a divisa
mais característica que põe a nu toda a sua falsidade interna.”
(TITARÉNKO, A. I. Particularidades principais do desenvolvimento
histórico da moral. In; DIVERSOS. Fundamentos da Ética
Marxista-Leninista. Moscou: Ed. Progresso, 1982, p. 73)
“Para atingir um objetivo,
desrespeita-se o caráter moral dos meios. Deste enfoque surge o
princípio da conduta moral ótima que indica o critério de
eficácia dos meios em detrimento do critério da sua moralidade.
A mentira e a traição, o veneno e a espada – tudo é permissível
e, mesmo, desejável quando se trata do caminho mais breve para o
objetivo desejado.” (BAKCHTANÓVSKI, V. I. Problemas da opção
moral. In: DIVERSOS. Idem, p. 138)
“As vantagens justificam os meios"
Todos conhecem a cantilena dos
ideólogos burgueses de que os marxistas se orientariam pela tese
de que “os fins justificam os meios”, no sentido de que os
comunistas estariam dispostos a utilizar qualquer meio para
atingir os seus fins – o socialismo e o comunismo. Essa é mais
uma das tantas calúnias contra aqueles que lutam por um mundo
mais livre e mais humano, liberto de toda forma de exploração e
opressão – o que é incompatível com o uso do engano, a
falsidade, a deslealdade, a baixeza e a vilania – que tão bem
caracterizam o comportamento da burguesia em sua fase
monopolista. O que a história tem demonstrado é que é o
imperialismo quem – com o “suporte filosófico” do pragmatismo –
nunca titubeou em utilizar os meios mais ignóbeis para alcançar
os seus objetivos, obter “proveito” e “vantagens”, massacrar
povos e destruir nações.
Ao adotar as fórmulas “tudo que é útil é verdadeiro”, “a idéia
verdadeira é aquela que nos traz vantagens”, “o êxito é o único
objetivo moral”, o pragmatismo concedeu respeitabilidade e
cidadania a qualquer canalhice, desde que demonstre ser capaz de
conduzir ao êxito. A cantilena dos escribas do imperialismo se
voltou contra eles próprios, recauchutada sob a fórmula “as
vantagens justificam os meios”!
Assim, se for preciso mentir –
dizendo que o Iraque era detentor de “armas de destruição em
massa” (mesmo sabendo que isso não tinha qualquer fundamento) –,
invadir e destruir o país para apropriar-se de seus riquíssimos
campos de petróleo, tudo isso é “moral”, é “certo”, pois obteve
êxito e alcançou vantagens incalculáveis para o grande capital
estadunidense, além de dividendos geopolíticos e militares para
o imperialismo norte-americano!
O pragmatismo jurídico
A filosofia pragmática – com a sua
pregação de que a “verdade” é o que é útil e não pode ser
entendida como uma “representação objetiva” da realidade,
devendo restringir-se a descrever cada experiência concreta,
tendo como único critério de veracidade o seu proveito para o
indivíduo – tornou-se a base ideológica das teorias mais
reacionárias entre os juristas burgueses dos Estados Unidos,
entre os quais os da escola “sociológica” e os chamados
“realistas”.
Para os “sociologistas” – em
perfeita consonância com o pensamento pragmático – não existem
“princípios jurídicos” (invenção dos metafísicos...) e as normas
e as leis tem um valor meramente formal, pois são incapazes de
responder às necessidades das “experiências” práticas com suas
singularidades. “O Direito é mais do que um conjunto de normas”,
dizem. O que importa é o processo de aplicação dessas normas a
cada caso concreto, atribuindo essa “experimentação aos juízes e
aos tribunais:
“O abandono da democracia e o
retorno à reação que caracteriza a época do imperialismo,
manifesta-se particularmente no crescimento do papel dos
tribunais e dos órgãos administrativos. Buscando fundamentar a
arbitrariedade dos juízes e de quantos aplicam o Direito, os
juristas reacionários norte-americanos sustentam que o essencial
no Direito não é o elemento normativo [as leis], mas o processo
da sua aplicação. (...) é precisamente a expressão do desejo da
burguesia de desembaraçar-se de sua própria legalidade (...) a
burguesia põe suas esperanças não tanto em suas leis, quanto em
seus juízes, que devem ‘emendar’ as leis e adaptá-las no maior
grau possível aos interesses dos círculos reacionários da
burguesia imperialista (...) a ampliação do papel do tribunal e
o estabelecimento da arbitrariedade dos juízes constitui uma das
tarefas a que se propõe a burguesia.” (POKROVSKI e outros.
História das Idéias Políticas. Ciudad de México: Grijalbo, 1966,
pp. 595-597)
Os “realistas” vão ainda mais
longe em sua “pragmatização” do Direito e na renúncia aberta à
legalidade quando afirmam que a lei nada mais é que uma opinião
do legislador, mas que essa opinião ainda não é um verdadeiro
direito, senão simplesmente uma hipótese que deve ser avaliada
pelos tribunais:
“O ‘realista’ Bingham (...) diz
que não são as leis que governam, mas os homens. O direito não
radica em regras, nem em princípios. Em sua aspiração de
fundamentar a legitimidade da sentença dos juízes, afirma que
estes não estão obrigados pelas leis, nem sequer pelos
precedentes judiciais [a jurisprudência]. (...) A lei, com essa
concepção, perde o valor de uma norma inamovível obrigatória
para o juiz. (...) a lei é só um prenúncio do que na realidade
faz o tribunal e nada mais. (...) John Dewey (...) afirma que a
norma do direito deve ser valorada por suas conseqüências, por
sua utilidade prática, como meio, como instrumento para alcançar
determinados objetivos. (...) ‘Sem a aplicação diz Dewey – a lei
é um pedaço de papel ou um som no ar, mas não há nada que se
possa denominar lei.” (POKROVSKI, idem, pp. 597-599)
Não é preciso pensar muito para
perceber as graves conseqüências que decorrem dessa “teoria
pragmática do direito” da época do imperialismo (que significa a
reação em toda linha), enquanto um instrumento para anular – na
prática da aplicação do Direito – os limitados avanços duramente
conquistados pelos trabalhadores e pelos povos de todo mundo no
terreno dos direitos civis, políticos e sociais.
Infelizmente, muitas dessas idéias
prevalecem inclusive em nossos tribunais, como recentemente
vimos acontecer com a adoção pelo STF da “teoria do domínio do
fato”, fazendo tabula rasa da “presunção de inocência”,
existente em qualquer Estado de Direito que se preze.
O pragmatismo social e político
Ao expressar suas concepções de
“Sociedade”, “Estado”, “Democracia”, o pragmatismo assume
abertamente a apologia do capitalismo e da democracia liberal
norte-americana, ainda que para isso tenha de lançar mão de
afirmações teleológicas ou propor conceitos metafísicos –
universais, imutáveis e a-históricos –, como “natureza humana”,
“tendências inatas”, “propriedade privada”, “democracia”,
jogando no lixo quaisquer exigências de “comprovação
experimental” do que apregoam:
“James (...) tenta explicar o
comportamento do homem e sua ‘experiência’ tomando por base a
imutável ‘natureza do homem’ determinada, diz, pela ‘abundância
inata de formas interiores, ou seja, pelo conjunto de instintos
que condicionam o ‘interesse eletivo’ do psiquismo humano.
Trata-se antes de mais nada do ‘instinto de propriedade’, que
motiva o homem a apropriar-se, acumular, a fazer o mal a quem
possui coisas das quais gostaríamos de nos apoderar; o ‘instinto
de beligerância’, que torna fatais as guerras e morticínios; o
‘instinto de dissimulação’, etc.
James expôs francamente o sentido
dessa concepção em suas ‘Palestras com professores sobre
psicologia’. ‘O instinto da propriedade é inerente à nossa
natureza – diz ele – e se arraigou tão a fundo nela que, do
ponto de vista psicológico, parece que tempos que suspeitar
antecipadamente de todas as formas extremadas das utopias
comunistas (...) Ao que parece, para a prosperidade espiritual
do homem é absolutamente necessário que ele seja dono, com
direito de propriedade exclusiva, não só da roupa que veste mas
de algo mais que ele possa, em caso de necessidade, defender de
todo mundo.” (BOGOMOLOV, A. S. A Filosofia Americana no Século
XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, pp. 48-49)
Seguindo a mesma toada, Dewey
afirma que as guerras e as mazelas sociais decorrem dos
“instintos humanos”:
“A semelhança da escravidão grega
ou da servidão feudal, a guerra e o regime econômico vigente são
formas sociais (patterns) entrelaçadas no material da atividade
instintiva. A natureza inata do homem fornece a matéria prima,
mas o costume fornece o mecanismo e os fins. A guerra seria
inconcebível sem a ira, a disposição de luta, a concorrência, a
vontade de exibir-se e outras tendências hostis. A atividade se
assenta nelas e existirá em quaisquer condições de vida.
Imaginar que elas serão erradicadas é o mesmo que supor que a
sociedade pode viver sem alimentação ou sem a união do homem com
a mulher. (...) semelhantes considerações dificilmente
demonstram que a guerra deve ser erradicada em algum futuro
distante” (DEWEY, John. Human Nature and Freedom. In:
BOGOMOLOV..., idem, pp. 82-83)
Dewey, também, apresenta de forma
apologética a “democracia liberal” norte-americana –
“plutocracia” escancarada que concede ao povo unicamente o
direito de escolher a cada quatro anos um republicano ou um
democrata para governá-lo, em nome dos interesses da burguesia
monopolista:
“a democracia tem um significado
moral e ideal (...) atingir a liberdade constitui o objetivo da
história política (...) o governo autônomo é um direito inerente
aos homens livres (...) podemos mesmo identificar (...) o fato
de toda a história do passado haver sido um movimento para a
conquista da liberdade. (...) A democracia é uma forma de vida
norteada pela fé realizadora nas possibilidades da natureza
humana (...) independente de raça, cor [que o digam os negros
norte-americanos], sexo, nascimento, família e riqueza material
ou cultural. (...) é a fé na capacidade de todas as pessoas para
dirigirem sua própria vida, livre de coerção e imposição
alheias”. (DEWEY, John. The Philosopher of the Common Man. In:
EDMAN, Irwin. John Dewey. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura,
1960, pp. 330-331) “Thomas Jefferson (...) foi o primeiro homem
moderno a colocar em termos humanos os princípios da democracia
(...) ‘as definições e os axiomas de um governo livre’, como
Lincoln os classificou”. (DEWEY, John. Freedom and Culture. In:
EDMAN, Irwin, idem, p. 294)
Mas, o próprio Dewey, em 1939 –
endossando as opiniões colonialistas de Thomas Jefferson –,
deixará evidentes suas reais concepções – imperialistas e
anti-democráticas:
“Os fundadores da democracia
política americana não eram tão ingenuamente dedicados à teoria
pura que desconhecessem a necessidade de condições culturais
para o bom êxito da tarefa das formas democráticas. (...)
Poderíamos encher páginas e mais páginas com palavras de Thomas
Jefferson insistindo (...) seus receios quanto ao bom êxito das
instituições republicanas nos países sul-americanos que se
haviam libertado do jugo espanhol. (...) Em certa ocasião chegou
até a sugerir que a melhor coisa que poderia acontecer às nações
sul-americanas seria continuarem sob o domínio nominal da
Espanha, com a garantia da França, Rússia [czarista], Holanda e
Estados Unidos, até que a experiência do governo autônomo as
preparasse para a independência completa.” (DEWEY, John. Freedom
..., idem, pp. 285-287)
Certamente, foi tão “nobre
preocupação” que fez os norte-americanos ignorarem o “direito
inerente aos homens livres” de um “governo autônomo” e imporem
aos cubanos, em 1901, pela força das armas, a “Emenda Platt”,
estabelecendo um protetorado estadunidense sobre Cuba e mantendo
ali, até hoje, contra a vontade do seu povo, a base naval de
Guantánamo. A mesma “nobre preocupação” tem sido, certamente, a
causa de dezenas de invasões, pelos Estados Unidos, de nações
soberanas em todo o mundo, em nome da “sacrossanta democracia
liberal”...
Nesse mesmo escrito, Dewey –
referindo-se à obsessão norte-americana por amealhar dinheiro –
o afirma que “se nossa cultura americana é grandemente
pecuniária, não é porque a estrutura primitiva ou inata da
natureza humana tenda, por si mesma, a obter lucro pecuniário. É
antes porque a cultura complexa estimula, promove e consolida as
tendências, inatas”. (DEWEY, John, idem, pp.265-266). Mais uma
vez, Dewey recorre em suas explicações às metafísicas
“tendências inatas”...
O marxismo de há muito pôs fim a
especulações metafísicas acerca de “tendências inatas” e
“natureza humana imutável”, mostrando que a essência do homem e
a sua “natureza” são constituídas pelo conjunto das relações
sociais em que ele atua: “a essência humana não é algo abstrato,
interior a cada indivíduo isolado. É, em sua realidade, o
conjunto das relações sociais.” (MARX, Karl. Teses sobre
Feuerbach. MARX, K. e ENGELS, F. Obras Escolhidas, vol. 3. Rio
de Janeiro: Vitória, 1963, p. 209). Ou seja, não são os
“instintos” ou supostas “tendências inatas” do homem a causa da
existência da exploração, da opressão, das agressões e das
guerras, como apregoa o pragmatismo, e sim as relações sociais
existentes, plenamente mutáveis!
Também em relação à violência do
Estado contra os oprimidos, Dewey deixa perceber seu
autoritarismo, reduzindo o problema à “eficiência” da repressão:
“É o caráter sacrossanto, assim atribuído ao uso da força pelo
Estado, que torna pungente a acusação de Tolstoi de que o Estado
é o arquiinimigo, a pessoa que recorre à violência em grande
escala. Não vejo outra saída exceto dizer que tudo depende da
adaptação eficiente dos meios aos fins. A séria acusação ao
Estado não é a de que ele usa a força – nada se consegue sem
usar força – e sim que não a usa de modo sábio ou eficiente.”
(DEWEY John. Force and coercion. SHOOK, John. Os pioneiros...,
idem, pp. 187-188)
Mas, deixemos de lado a conversão
“metafísica” dos pragmáticos – que nada esclarecem acerca dessa
tal “natureza humana imutável” e enaltecem a “sacrossanta
propriedade privada” (da qual a imensa maioria da humanidade
está excluída), o “indivíduo abstrato” (que “levita” alheio às
classes) e a “democracia liberal” (que nos EUA se reduz em
escolher, a cada quatro anos, qual o segmento do grande capital
que irá dirigir o Estado) – e vejamos o que Richard Rorty, o
“guru” do pragmatismo contemporâneo (que se auto-proclama “de
esquerda”) nos tem a dizer:
“Gostaria que tivéssemos alcançado
uma época em que pudéssemos finalmente nos livrar da convicção
(...) de que deve haver maneiras teóricas amplas de achar como
por fim à injustiça, como oposto a maneiras experimentais e
humildes. (...) penso que há de chegar a época de abandonar os
termos ‘capitalismo’ e ‘socialismo’ do vocabulário político da
esquerda. Seria uma boa idéia parar de falar sobre ‘a luta
anticapitalista’ e substituí-la por alguma coisa banal e não
teórica – algo como ‘a luta contra a miséria humana evitável’.
(...) Sugiro que comecemos a falar de cobiça e egoísmo, em vez
de ideologia burguesa; de ondas de fome e desemprego, em vez de
mercadorização do trabalho; de diferenças de gastos por aluno em
escolas e acesso diferencial à saúde, em vez da divisão da
sociedade em classes. (...) Uma vez que ‘capitalismo’ não pode
mais funcionar como o nome da fonte da miséria humana, ou
‘classe trabalhadora’ como o nome de um poder redentor,
precisamos encontrar novos nomes para essas coisas (...) Não
teremos outro nome para um poder redentor exceto ‘sorte’. (...)
Fukuyama sugeriu, e eu concordo, que não há mais projeto
romântico para a esquerda além do de tentar criar Welfare States
democrático-burgueses e equalizar as oportunidades de vida entre
os cidadãos desses Estados por meio da redistribuição de
excedente através de economias de mercado. (...) aquilo que os
marxistas chamava de ‘reformismo liberal burguês’ é o único
caminho que resta à política de esquerda.” (RORTY, Richard.
Pragmatismo e Política. São Paulo: Martins, 2005, pp. 25; 54-55,
63-64)
Discurso que procura induzir à
completa capitulação frente ao capitalismo putrefato, ao
abandono de qualquer teoria de transformação social e à adesão
ao mais rasteiro “reformismo burguês”, na esperança de que
algumas migalhas da mesa dos poderosos caiam para os “famélicos
do mundo”!
Não satisfeito com sua apologia do
capitalismo – “eterno e insuperável” –, Rorty esforça-se para
convencer- nos das “excelências” da democracia e da sociedade
estadunidenses: “vejo a América (...) abrindo uma possibilidade
de panoramas democráticos ilimitáveis. Penso que nosso país
(...) é um bom exemplo da melhor espécie de sociedade já
inventada” (RORTY, idem, p. 31) Que o digam os pobres e os
negros e norte-americanos, assim como todos os povos oprimidos
pelo poder econômico e pela máquina de guerra dos Estados
Unidos...
Para concluirmos nossa análise, é
preciso examinar a concepção pragmática de “Estado”,
desenvolvida essencialmente por Dewey, que se opõe tanto à
teoria “contratualista” – que considera que o Estado surge de um
“contrato” entre indivíduos que abrem mão de sua liberdade
absoluta para depositá-la nas mãos de um “ente”, situado acima
da sociedade, com a tarefa de mediar seus interesses comuns –,
quanto à concepção marxista, que afirma:
“O Estado (...) é antes um produto
da sociedade quando esta chega a um determinado grau de
desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se enredou
numa irremediável contradição com ela própria e está dividida em
antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas
para que esses antagonismos, essas classes com interesses
econômicos colidentes não se devorem e não consumam a sociedade
numa luta estéril, faz-se necessário um poder colocado
aparentemente por cima da sociedade, chamado a amortecer o
choque e a mantê-lo dentro dos limites da ‘ordem’. Este poder
(...) é o Estado (...) da classe economicamente dominante,
classe que por intermédio dele se converte em classe
politicamente dominante e adquire novos meios para a repressão e
exploração da classe oprimida.” (ENGELS, F. A origem da família,
da propriedade privada e do Estado. In: MARX, K. e ENGELS, F.
Obras Escolhidas, vol 3..., idem, p. 135-137)
Ao contrário, para Dewey, a
democracia é “um modo de vida” que se expressa em distintas
“comunidades locais” – família, vizinhança, escola, trabalho,
clube, igreja, associação, etc. A partir daí, “a democracia vai
vir por si própria, pois democracia é o nome para uma vida de
comunhão”. (DEWEY, John. The Public and its Problems. In:
POGREBINSCHI, Thamy, idem, p. 144) “De acordo com Dewey, (...) a
Grande Comunidade deve ser uma enorme articulação de pequenas
comunidades locais. (...) à democracia enquanto um sistema de
governo, Dewey chama de democracia política. (...) O que há de
essencial neste modo como Dewey encara a democracia (...) é que
a democracia deixa de ser vinculada unicamente à política. (...)
Os cidadãos deweyanos não precisam de um governo que não seja o
deles próprios, a ser exercido de forma direta e constante –
seja em casa, na escola, no trabalho, nas inúmeras associações
com seus múltiplos fins: a democracia se faz a si mesma em toda
parte.” (POGREBINSCGHI, Thamy..., idem, pp. 144-145; 151;
156-158)
Essa abordagem – sedutora por seu
apelo à “participação direta” dos indivíduos nos assuntos do seu
dia a dia, de forma palpável –, que propala ser isso a
“verdadeira democracia”, longe de ser uma abordagem inofensiva,
busca desinteressar as pessoas da “política” e da luta pelo
Poder do Estado, visto com algo distante e malévolo,
contribuindo para manter o “status quo”. “Contentemo-nos com a
participação democrática em nossas comunidades locais e deixemos
a ‘grande política’, a luta pela hegemonia no Estado, nas mãos
dos políticos profissionais” – essa poderia ser a “divisa
sagrada” do pragmatismo político!
São “verdadeiras” na medida em que
são eficazes e proporcionam vantagem ao indivíduo. Na segunda
parte do nosso ensaio, estudamos o seu relativismo moral – o
correto, o bom, o moral, é aquilo que traz proveito para o
indivíduo. Em seguida, estudamos o pragmatismo jurídico, que
nega a existência de princípios e normas jurídicas –
historicamente construídas – e delega a juízes e tribunais de
classe a decisão sobre o “justo”, segundo sua “utilidade para a
sociedade” (isto é, a sua utilidade para a classe dominante).
Por fim, analisamos o pragmatismo social e político, mera
apologia da democracia liberal norte-americana e do capitalismo
imperialista. Nessa terceira e última parte do nosso estudo do
Pragmatismo, abordaremos as suas manifestações mais diretas na
luta de classes.
A subestimação da teoria e o
"praticismo rasteiro"
Na medida em que o Pragmatismo
nega qualquer correspondência das idéias e das teorias com a
realidade objetiva e faz da experiência a única forma de
conhecimento, ignorando a capacidade do intelecto humano – a
partir da generalização, da abstração e do raciocínio – de
chegar à essência das coisas e às leis que regem os processos –,
é óbvio que ele desvaloriza completamente a “teoria” e faz da
“prática” um fetiche.
Mesmo compreendendo que a
“prática” é o ponto de partida de todo o conhecimento e o único
“critério de verdade” (comprovação) desse conhecimento –, o
marxismo não cai no “empirismo”. Em seu ensaio filosófico Sobre
a Prática, Mao Tse Tung expõe isso de forma pedagógica:
“No processo da prática, o homem
não vê ao início mais que as aparências, os aspectos isolados e
as conexões externas das coisas. (…) Esta etapa do conhecimento
denomina-se etapa sensorial e é a etapa das sensações e
impressões. Nessa etapa o homem não chega ainda a formar
conceitos (...) nem a tirar conclusões lógicas. À medida que
continua a prática social, as coisas que no curso da prática
suscitam no homem sensações e impressões, se apresentam uma e
outras vezes. Então, se produz no seu cérebro uma mudança
repentina (um salto) no processo do conhecimento e surgem os
conceitos. Os conceitos já não constituem reflexos das
aparências das coisas, de seus aspectos isolados e de suas
conexões externas, senão que captam as coisas na sua essência,
em seu conjunto e em suas conexões internas. (…) Esta etapa, dos
conceitos, juízos e raciocínios, é (...) a etapa do conhecimento
racional. A sensação só resolve o problema das aparências;
unicamente a teoria pode resolver o problema da essência. (…)
Pensar que o conhecimento pode ficar na etapa inferior,
sensorial (...) significa cair no empirismo (...) Os práticos
vulgares (...) respeitam a experiência, mas desprezam a teoria e
(...) carecem (...) de uma perspectiva de longo alcance,
contentando-se com seus êxitos parciais e com fragmentos da
verdade.” (MAO TSE TUNG. Cinco tesis filosóficas. Beijing:
Ediciones en lenguas extranjeras, 1985, pp. 4-14)
Infelizmente, ao introjetar essas
concepções pragmáticas, muitos lutadores sociais desprezam a
“teoria” – vista como algo “abstrato” e supérfluo, para o que
não dispõem de tempo – e caem no mais rasteiro “praticismo”,
carentes de uma visão estratégica da luta. Incapazes de enxergar
além dos aspectos fenomênicos, aparentes, secundários e fugazes
da realidade, não alcançam penetrar na essência dos processos
históricos nem captar as leis que os regem. Sua ação limita-se
às demandas imediatas e pontuais. Seu ativismo “praticista”
leva-os a uma ação fragmentada, estritamente sindical, juvenil,
feminista, racial, comunitária, ecológica ou parlamentar,
desligada de um projeto estratégico.
Não por acaso, Richard Rorty –
“guru” do Pragmatismo atual – investe com tanto ódio contra a
“Teoria”:
“Essa preferência por específicos
compromissos concretos em prejuízo de amplas sínteses teóricas
concordaria com a perspectiva pragmática de Dewey de que a
teoria tem de ser encorajada somente quando é passível de
facilitar a prática. (...) Teremos de conseguir passar por cima
da esperança por algo que venha a ser o sucessor da teoria
marxista, uma teoria geral da opressão que fornecerá um divisor
de águas que nos levará a derrubar simultaneamente a injustiça
econômica, racial e de gênero. Teremos de abandonar a idéia de
‘ideologia’(...) o fim do leninismo nos livrará, com sorte, da
expectativa de qualquer coisa como socialismo científico,
qualquer fonte similar de prognóstico teoricamente fundamentado.
(...) teremos de arrancar de nosso vocabulário termos como
‘capitalismo’, ‘cultura burguesa’ (e até ‘socialismo’) (...) Não
podemos mais usar o termo ‘capitalismo’ para indicar (...) a
‘fonte de toda injustiça contemporânea’ (...) como a Grande
Coisa Má que explica a maior parte da miséria humana
contemporânea. (...) o Welfare State capitalista é o melhor que
podemos esperar.” (RORTY, Richard. Pragmatismo e política. São
Paulo: Martins, 2005, pp. 99; 70; 66-67; 61-62; 48)
Evidentemente, a justa crítica à
“subestimação da teoria” e ao “praticismo” não deve nos levar ao
erro oposto do “teoricismo” e do “doutrinarismo”, desligados da
vida e da luta, ou ao desprezo da “prática”, fonte de todo
conhecimento (direto ou indireto) e critério de verdade. Pois,
parafraseando Marx, não basta interpretar o mundo, é preciso
transformá-lo.
“Imediatismo e possibilismo"-
Renúncia ao futuro
O “imediatismo” manifesta-se na
ação que busca obter vantagens imediatas, sem levar em conta as
conseqüências futuras. O “pragmático” procura tirar proveito de
cada oportunidade momentânea, sem preocupar-se com um projeto de
longo prazo. Preocupa-se em apresentar resultados a curto-prazo
– que atendam as demandas do “hoje”, da próxima eleição, da
próxima campanha salarial ou luta reivindicativa – mesmo que à
custa do futuro. Com horizontes limitados – por não priorizar um
projeto estratégico – tende ao “seguidismo” e à linha do “menor
esforço”.
Os “imediatistas” subordinam sua
ação à chamada “opinião pública” e ao “senso comum” – que nada
mais são do que a ideologia da classe dominante – e navegam ao
“sabor dos ventos”. Fogem – como o “diabo da cruz” – das “bolas
divididas”, das polêmicas difíceis, das batalhas “encardidas”.
Evitam “nadar contra a corrente”. Seu critério de “verdade”, da
“justeza do atuar”, são o êxito e o proveito imediatos.
Ao contrário “os comunistas
combatem pelos interesses imediatos da classe operária, mas ao
mesmo tempo defendem e representam, no movimento atual, o futuro
do movimento.” (MARX, K e ENGELS, F. Obras Escolhidas, Vol. 1.
São Paulo: Editora Alfa-Ômega, s/data, p. 46). Pois, o “nosso
esforço atual visa ao grande objetivo do futuro e se perdermos
de vista este grande objetivo não mais seremos comunistas.” (MAO
TSE TUNG. Obras Escolhidas, Vol. 1. Rio de Janeiro: Editorial
Vitória, 1961, p. 268)
Berstein – pai do “socialismo
reformista” – fundamenta sem meias palavras o abandono do
objetivo final socialista, em troca de “conquistas palpáveis e
imediatas”:
“(...) escrevi a sentença que diz
que o movimento significa tudo para mim e que aquilo que
usualmente se chama ‘objetivo final do socialismo’ nada
representa; e é nesse mesmo sentido que hoje a escrevo de novo.
(...) Nunca tive um excessivo interesse no futuro, para além de
princípios gerais (...). Os meus pensamentos e esforços estão
preocupados com os deveres do presente e do futuro próximo e só
me ocupo com as perspectivas mais longínquas na medida em que me
possam fornecer uma linha de conduta para a ação adequada agora.
(...) Para mim o que geralmente se chama fins últimos do
socialismo é nada, mas o movimento é tudo (...) um fim último é
aqui considerado como sendo dispensável para os objetivos
práticos (...) demonstrei muito pouco interesse pelos fins
últimos”. (BERSTEIN, Eduard. Socialismo Evolucionário. Rio de
Janeiro: ZAHAR Editores, 1964, pp. 13; 158)
O “possibilismo” – conceito
surgido no seio do movimento socialista francês do século XIX,
defendido por Benoît Malon, Paul Brousse e outros – é uma
variante ainda mais pérfida do “imediatismo”, que propõe que a
luta deve dar-se apenas no terreno do “possível”, entendido como
aquilo que está ao nosso alcance, em cada momento. No mesmo
diapasão, refuga qualquer combate em que não haja certeza de
vitória. Isso significa nunca desafiar o status quo vigente e
abdicar de qualquer transformação revolucionária.
O “possibilismo” é o oposto da
“audácia revolucionária” – que não se confunde com o
“aventureirismo”, nem com o desprezo pelo exame da correlação de
forças –, sem a qual nenhuma transformação revolucionária é
possível. Como afirmou Marx, “a história universal seria na
verdade muito fácil de fazer-se se a luta fosse empreendida
apenas em condições nas quais as possibilidades fossem
infalivelmente favoráveis”. (MARX, Karl. O 18 Brumário e Cartas
a Kugelman. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 293).
Sem dúvida, nenhuma revolução
socialista – na Rússia, China, Vietnam, Coreia ou Cuba, entre
outras – teria ocorrido sem uma enorme “audácia revolucionária”,
devido às dificílimas circunstâncias em que se deram. Da mesma
forma, as epopéias da Coluna Prestes e da Guerrilha do Araguaia
nunca teriam sido empreendidas.
O “possibilismo”, além de ser o
mais estreito reformismo, significa a renúncia à revolução.
“Taticismo- o descolamento da
estratégia
Todos nós sabemos da importância
da “tática” e da grande amplitude que nela se necessita para
fazer avançar a luta revolucionária nas condições mais adversas.
Porém, para os marxistas, a tática
é parte da estratégia, à qual se subordina e à qual deve servir.
A tática não trata da luta na sua totalidade, de seus objetivos
últimos em cada etapa do processo revolucionário, o que é a
tarefa da “estratégia”. Sua atenção está voltada para os
diferentes episódios e embates parciais que têm lugar no
processo global de luta. Usando uma terminologia militar, se a
estratégia tem por objetivo vencer a guerra, à tática cabe
determinar os caminhos, os meios, as formas e os métodos da luta
em cada combate concreto. Por isso, as ações e os resultados
táticos precisam ser avaliados não em si mesmos, não do ponto de
vista dos seus efeitos imediatos, e sim em relação aos objetivos
e às possibilidades estratégicas.
Como nos ensina Renato Rabelo:
“Do ponto de vista comunista
(...), a política é justa quando a tática não se desliga da
estratégia, quando a tática está em harmonia com o objetivo
maior, estratégico. O sentido estratégico, a razão de ser do
Partido Comunista, é superar os marcos da sociedade capitalista.
(...) nossa tática é o meio de alcançar esse objetivo. (...) a
tática se subordina à estratégia.” (RABELO, Renato. Idéias e
Rumos. São Paulo: Editora Anita, 2009, p. 263)
Em muitas situações, as vitórias
táticas contribuem para a realização das tarefas e dos objetivos
estratégicos. Em outras circunstâncias os êxitos táticos – por
mais brilhantes que sejam –, na medida em que não correspondem
às possibilidades estratégicas, comprometem o conjunto da luta.
Por fim, em certas situações é necessário abrir mão do êxito
tático e aceitar conscientemente os reveses e as derrotas
táticas, com o objetivo de obter vitórias estratégicas (e
inclusive táticas) no futuro. Um exemplo clássico é a firme
postura bolchevique contra a participação na 1ª Guerra Mundial –
em um momento em que o sentimento “patriótico” russo estava
exacerbado –, o que causou um momentâneo isolamento dos
comunistas (insucesso tático), logo revertido pela adesão das
amplas massas à luta bolchevique para terminar com a guerra e
realizar a Revolução de Outubro (êxito estratégico). Da mesma
forma, a assinatura da Paz de Brest Litovsk pela Rússia
Soviética – cedendo territórios à Alemanha e pagando-lhe pesadas
indenizações (derrota tática) – foi essencial para afiançar o
poder proletário, consolidar a revolução e recuperar
posteriormente esses territórios (vitória estratégica).
Lenin, em seu brilhante estudo da
Comuna de Paris, afirma:
“Marx sabia apreciar, também, que
na história há momentos em que a luta desesperada das massas,
inclusive em defesa de uma causa condenada ao fracasso, é
indispensável com o objetivo de que essas massas sigam
aprendendo e preparando-se para a luta seguinte.(...) ‘Os
canalhas burgueses de Versalhes – escreve Marx – puseram os
parisienses diante de uma alternativa: aceitar o desafio ou
entregar-se sem luta. A desmoralização da classe operária, nesse
último caso, teria sido uma desgraça muito maior que o
perecimento de qualquer número de líderes’.” (LENIN. La Comuna
de Paris. Moscou: Editorial Progreso, 1982, pp. 20-21)
Assim, a tática não deve subordinar-se aos interesses parciais
ou momentâneos, nem pode basear-se unicamente em uma análise dos
efeitos políticos imediatos. Precisa ser elaborada tendo em
vista as tarefas e as possibilidades da estratégia, visando o
futuro do movimento.
O “taticismo” é exatamente a
autonomização da tática e o seu “descolamento” da estratégia, à
qual deveria servir. Em conseqüência, rebaixa a luta ao nível
dos interesses parciais, momentâneos ou corporativos, que passam
a falar mais alto que o objetivo estratégico da transformação
socialista.
Os “pragmáticos” – para quem o único critério de “verdade” é o
êxito em cada ação concreta –, são incapazes de “renúncias
táticas” para assegurar vitórias estratégicas no futuro. Da
mesma forma, nunca nadam “contra a corrente”, pois isso pode
significar derrotas táticas provisórias, Já “os marxistas sabem
sofrer os ‘fracassos’, aparentes e passageiros, e proclamar –
para o maior bem da prática – a verdade científica. (...) O
pragmatismo, ao contrário, está sempre do lado para onde os
ventos sopram; não busca, assim, senão o êxito imediato.”
(POLITZER, Georges. Princípios Fundamentais de Filosofia. São
Paulo: HEMUS, s/data, p. 161).
E Mao Tse Tung nos afirma:
“Nas lutas sociais, as forças que
representam a classe avançada às vezes sofrem revezes; mas isso
não se deve a que suas idéias sejam incorretas, senão a que, na
correlação de forças em luta as forças avançadas não são
momentaneamente tão poderosas como as reacionárias. Portanto,
fracassam temporariamente, mas hão de triunfar, mais cedo ou
mais tarde.” (MAO TSE TUNG. Textos escogidos. Ciudad de México:
Partido del Trabajo, 2015, p. 529)
O pragmatismo político eleitoral
John Dewey – em um texto de 1939 –
deixa claro qual é para o “pragmatismo” a grande questão em
jogo: “a idéia de que a moralidade deve ser (...) o supremo
regulador dos deveres sociais, já não é tão amplamente
alimentada como dantes. (...) no momento o candidato favorito,
ideológico e psicológico, ao controle da atividade humana é o
amor ao poder.” (DEWEY, John. Aplicações da Liberdade Humana.
In: EDMAN, Irwin. John Dewey. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura,
1960, pp. 262-264).
Ou seja, a questão principal é a
busca do Poder político em cada Estado e a conquista do Poder
Mundial. Dentro da visão pragmática, a política, a luta pelo
poder, são “justas”, “corretas”, “verdadeiras”, se forem capazes
de levar à vitória, de alcançar o êxito. Esse objetivo deverá
ser atingido a qualquer custo!
Na medida em que, nas ditas
“democracias ocidentais”, a disputa pelo Poder se dá – em
condições normais – através de processos eleitorais, a conquista
do voto do eleitor será meta. Para alcançá-la, os diferentes
partidos – com honrosas exceções – se curvarão ao “senso comum”,
à chamada “opinião pública”, que nada mais é do que a ideologia
dominante: “Os pensamentos da classe dominante são também, em
todas as épocas, os pensamentos dominantes, ou seja, a classe
que tem o poder material dominante numa dada sociedade é também
a potência dominante espiritual.”
(MARX e ENGELS. A Ideologia Alemã – Vol. 1. Lisboa – Ed.
Presença; Brasil - Martins Fontes: pp. 55-56). E João Amazonas
complementa: “A burguesia não apenas detém o predomínio de sua
ideologia, como domina os instrumentos de divulgação e defesa
dessa ideologia.” (AMAZONAS, João. Os Desafios do Socialismo no
Século XXI. São Paulo: Editora Anita, 1999, p. 68).
Assim, a chamada “opinião pública
é, na verdade, construída e reforçada cotidianamente pelos meios
de comunicação, dominados, quase que integralmente, pelo capital
monopolista.
E o “pragmatismo eleitoral” se
expressará, então, através de uma política orientada
fundamentalmente pelas pesquisas de opinião – quantitativas e
qualitativas – e pelos marketeiros, que se especializam em
“adestrar” os candidatos para que digam aquilo que o eleitor
“quer ouvir” ou se predispõe a acreditar.
Para os “pragmáticos”, as eleições
nunca serão um espaço privilegiado para um grande confronto de
idéias, onde as distintas classes ou camadas sociais apresentam
suas propostas e disputam a preferência do eleitorado. Aqui, a
performance (desempenho, principalmente visual) do candidato é
mais importante que o conteúdo de suas idéias e propostas.
Referindo-se a isso, o sociólogo
argentino Atílio Boron, em instigante texto, afirma:
“Uma descoberta decisiva (...) se produziu a partir do primeiro
debate televisado, em 1960, entre John F. Kennedy e Richard
Nixon. Este era o candidato oficialista, que até esse momento
liderava as preferências. Porém, na eleição foi derrotado por
uma estreita margem (aproximadamente 1%).
O que foi que descobriram os
investigadores? Que quem escutou o debate pela radio afirmava
que o vencedor havia sido Nixon, mas quem assistiu o debate pela
TV, inclinou-se majoritariamente por JFK. A radio transmitia uma
mensagem, a voz; a TV, a voz e a imagem, e esta resultou ser
decisiva, porque Nixon saiu-se mal na televisão, aparecendo
descuidado, com uma barba incipiente e suando, o que contrastava
desfavoravelmente com o bom aspecto e juventude do seu
adversário.
Refletindo sobre a ‘sociedade
tele-dirigida, o politólogo italiano Giovanni Sartori escreveu
(...): ‘Na televisão o fato de ver prevalece sobre o fato de
falar. Em conseqüência, o telespectador é mais um animal vidente
que um animal simbólico. Para ele as coisas representadas em
imagens contam e pesam mais que as coisas ditas em palavras. E
isso é uma mudança radical de direção, porque enquanto a
capacidade simbólica distancia o homo sapiens do animal, o fato
de ver o aproxima de suas capacidades ancestrais, ao gênero a
que pertence à espécie do homo sapiens.’ Em outras palavras, a
televisão nos faz retroceder na escala animal (...) produzindo
um progressivo menosprezo de nossas faculdades de simbolização
em favor das mais elementares de visualização.” (BORON, Atilio.
Los medios y la batalla por la democracia en América Latina.
CIESPAL, Quito, 2015)
Assim, são desenvolvidas campanhas
eleitorais cada vez mais parecidas e “pasteurizadas”, onde os
temas tratados são aqueles impostos pelas pesquisas de opinião e
de antemão conhecidos – como saúde, educação, segurança,
corrupção –, onde os candidatos só diferem pela maior ou menor
engenhosidade com que prometem resolver os problemas.
As questões estruturais e de fundo
deixam de comparecer, submergidas nas aparências e nas
conveniências. Os temas polêmicos e capazes de confrontar a
ideologia dominante são deixados de lado e exorcisados, pois
podem prejudicar a eleição. É dada preferência a candidaturas
“redondas”, “sem arestas”, que abordem temas consensuais,
distinguindo-se unicamente por alguma “proposta de efeito”. A
forma prevalece sobre o conteúdo. O único que interessa é a
conquista do maior número de postos eletivos, não importando se
para isso as campanhas reforçam a ideologia burguesa dominante.
As inevitáveis e necessárias
alianças eleitorais tornam ainda mais difícil evitar o
“taticismo eleitoral”, e a perda de referências estratégicas e
revolucionárias nos processos eleitorais.
Mesmo setores de esquerda se “rendem” à lógica “pragmática”.
Passam-se os anos e – apesar de importantes avanços eleitorais
do campo popular e democrático – constata-se “com espanto” o
fortalecimento da ideologia e da hegemonia burguesa na
sociedade. Fica evidente que o “pragmatismo político” não
proporciona uma efetiva acumulação revolucionária de forças,
contribuindo, ao contrário, para reforçar a hegemonia burguesa e
afiançar a atual sociedade de classes.
Significa essa crítica ao
“pragmatismo eleitoral” que negamos a necessidade de pesquisas
de opinião, que nos informem acerca do estado de ânimo e das
opiniões predominantes nas massas? Ou de nos apoiarmos em
especialistas em política eleitoral, que dominem as modernas
técnicas de comunicação e a psicologia das massas? Evidentemente
que não.
Mas significa que o comando deve
ser da “política” e não da “técnica”. Que o “conteúdo” tem de
prevalecer sobre a “forma”. Que as propostas imediatas precisam
estar articuladas com nossas bandeiras estratégicas. Que não
podemos criar ilusões nas massas de que os seus problemas de
fundo podem ser resolvidos sem profundas mudanças sociais. Que o
socialismo é o nosso grande objetivo e como tal tem de ser
propagandeado. Pois, “nunca, em nenhum momento, esse Partido se
descuida de despertar nos operários uma consciência clara e
nítida do violento antagonismo que existe entre a burguesia e o
proletariado (...) Os comunistas não rebaixam a dissimular suas
opiniões e seus fins.” (MARX, K e ENGELS, F. Obras Escolhidas,
Vol. 1. São Paulo: Editora Alfa-Ômega, s/data, p. 46-47)
Conclusão
Não devemos subestimar a
perniciosidade da filosofia pragmática, apesar de seu pequeno
valor no “mercado de idéias” da Academia. Ela é a filosofia do
“senso comum”, do homem que quer “ter vantagem em tudo”.
Infiltra-se, insidiosa, em todos os poros da sociedade burguesa.
Sequer os comunistas estamos imunes a ela.
Com propriedade, os diversos
Congressos partidários têm alertado para os desvios
“pragmáticos”, que se acentuam em tempos de defensiva
estratégica:
“Nas condições de relativa
defensiva do movimento operário e de intensa institucionalização
da atividade política, crescem as tendências ao pragmatismo, que
pode levar ao oportunismo, tanto pela direita quanto pela
esquerda. Distanciando-se do debate teórico sobre os objetivos
estratégicos (...) o militante começa a construir um projeto
próprio, fruto de anseios pessoais, abandonando o projeto
coletivo, às vezes aderindo a outros que lhe dão mais vantagens.
(...) A rendição ao pragmatismo é o caminho para a liquidação da
unidade do Partido e o rebaixamento do seu objetivo estratégico”
(PCdoB. Documentos e Resoluções - 11º Congresso. São Paulo:
Editora Anita, 2006, pp. 101; 29)
Tema que também foi tratado por
nosso 12º Congresso, que chamou a atenção para os riscos do
“pragmatismo, produto da luta política no nível atual, que leva
a perder de vista objetivos fundamentais em prol do imediato, à
pressão pela autonomização de grupos de interesse no interior do
Partido, à perda de referenciais estratégicos na atuação no seio
das instituições vigentes, à burocratização.” (PCdoB. Documentos
e Resoluções - 12º Congresso. São Paulo: Editora Anita, 2010, p.
131)
Evidentemente, não temos a
pretensão de haver esgotado o tema do “pragmatismo” nesse
artigo. Esperamos, porém, ter despertado uma maior preocupação
em relação a ele e em relação à necessidade da valorização do
estudo teórico em todos os campos do conhecimento.