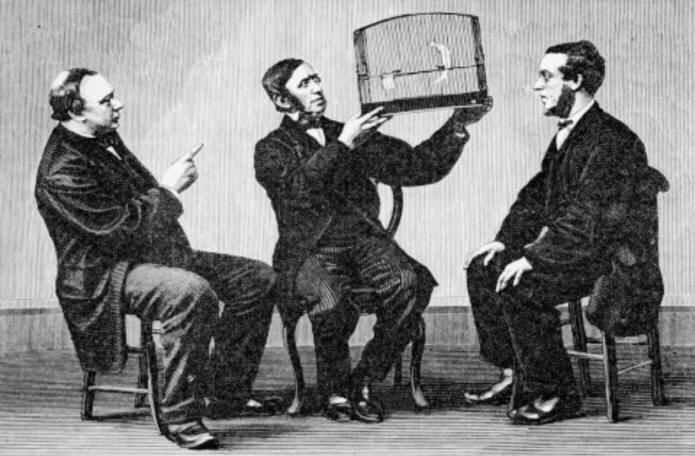
Eu estava sobre uma colina e vi o Velho se aproximando,
mas ele vinha como se fosse o Novo.
Ele se arrastava em novas muletas, que ninguém antes havia
visto,
e
exalava novos odores de putrefação que ninguém antes havia
cheirado.
..................................................................................................
E
em torno estavam aqueles que instilavam horror e gritavam:
Aí vem o Novo, tudo é novo, saúdem o Novo, sejam novos como nós!
E
quem escutava, ouvia apenas os seus gritos, mas quem olhava, via
tais que não gritavam.
Assim marchou o Velho, travestido de Novo,
mas em cortejo triunfal levava consigo o Novo e o exibia como
Velho.
O
Novo ia preso em ferros e coberto de trapos;
estes permitiam ver o vigor de seus membros.
Bertold Brecht
A
questão da relação da “Nova” História com a Escola dos
Annales dá lugar a diversas controvérsias. A primeira delas
refere-se a própria existência ou não do que se convencionou
chamar de Nova História. A segunda, diz respeito a se
haveria algo radicalmente “novo” na referida escola. A terceira,
quanto à sua vinculação propriamente dita com a Escola dos
Annales.
Quanto à primeira questão, apesar da heterogeneidade e ecletismo
da Nouvelle Histoire – “o movimento está unido apenas
naquilo a que se opõe”[1]
–, devemos aceitar a sua existência enquanto última geração da
Escola dos Annales (hoje já se fala em 4ª geração!).
No que se refere ao seu caráter de “novidade”, devemos ser mais
cautos. Como nos diz Silvia Petersen, é preciso “saber que
tanto de novo estamos criando, que tanto estamos avançando (ou
velhas idéias estão aparecendo como novas) e, por outro, que
tanto velhas concepções têm escapado à crítica e conseguiram
infiltra-se, contrabandeando o velho para novas formas de pensar.”[2]
No que diz respeito à continuidade/descontinuidade entre a “Nova”
História e a Escola dos Annales, somos da opinião que,
por um lado, há uma continuidade e, por outro, uma ruptura. É o
que desenvolveremos a seguir.
I
- A PRIMEIRA E A SEGUNDA GERAÇÕES DA ESCOLA DOS ANNALES
Analisar a Escola dos Annales – que nos anos 70 irá dar
origem à “Nova” História – nos exige levar em conta tanto
a sua heterogeneidade e relativo ecletismo, quanto as suas
distintas fases. Há um primeiro período, entre 1929 e 1939, em
que ela se volta mais para os aspectos econômicos e sociais da
história – no que alguns pretenderam ver alguma proximidade com
o marxismo – apesar de que “nem Febvre nem Bloch tinham
grande interesse nas idéias de Marx.”[3]
Foi uma fase de crítica às correntes dominantes nas ciências
sociais do Ocidente, seja ao positivismo, seja ao “teoricismo”
idealista. É a época da revista Annales d’Histoire Economique
et Sociales, dirigida por Lucien Febvre e Marc Bloch, este
bastante influenciado por Durkheim, aquele por Jaurés e
Michelet.
O
seu “primeiro traço definidor (...) é de (...) rechaço do
historicismo e de sua estéril erudição fatual (...) contra a
tentativa de estabelecer a indagação do ‘fato histórico’ como
objetivo supremo (...) contra uma história estritamente política”[4].
A “história narração” foi substituída pela “história problema”,
mais aberta.
Com base nesta crítica, os Annales propuseram uma
“história econômica e social.”, o abandono da história
preocupada com os eventos isolados e com os “grandes homens”,
mais voltada aos aspectos coletivos. Mas logo os fatos
demonstraram que esta opção não era sólida.
Já em 1939 a revista alterou o seu nome para Annales
d’histoire sociale e em 1941, em sua conferência Vivre
l’histoire, para os alunos da École Normale Supérieure,
Bloch afirmou:
Sabemos muito bem que ‘social’, em particular, é um desses
adjetivos a que se fizeram dizer muitas coisas no decorrer do
tempo, a tal ponto que por fim já não quer dizer quase nada
(...) Concordávamos em (...) uma palavra tão vaga quanto
‘social’ parecia ter sido criada (...) para servir de emblema a
uma revista que pretendia não se rodear de muralhas (...) não há
história econômica e social. Há a história pura e simplesmente
em sua unidade.[5]
E
Febvre complementou, para que não ficasse qualquer dúvida de
proximidade com o marxismo:
Falando com propriedade, não há história econômica e social. E
não somente porque a relação entre o econômico e o social não é
privilegiada (...) no sentido de que não há razão alguma para
dizer econômico e social em lugar de político e social,
literário e social, religioso e social ou, inclusive, filosófico
e social. Não foram razões racionais as que nos habituaram a
relacionar de forma natural, e sem mais reflexões, os dois
epítetos de econômico e social (...) esta fórmula não é outra
coisa que um resíduo ou uma herança das longas discussões que
suscitou, já há mais de um século, aquilo que chamamos o
problema do materialismo histórico.[6]
Como nos ensina Fontana:
a
qualificação de ‘econômica’, não foi outra coisa que uma
concessão a uma moda passageira, a um curto galanteio com o
materialismo histórico (...) No ano de 1941, Febvre opina que o
trabalho do historiador consiste em relacionar aspectos da vida
humana, sem que importe demasiado quais sejam os que se
escolham. Nenhum deles tem um papel predominante (...) A
história é ‘ciência (...) da harmonia que (...) se estabelece em
todas as épocas entre as diversas condições sincrônicas
espirituais.’ (Combats pour l’Histoire, p.31-32) Frase que em
última instância significa que tudo está relacionado com tudo,
mas que esquece de dizer-nos o fundamental: de que forma está
relacionado.[7]
Um terceiro aspecto relevante da Escola dos Annales é a
sua concepção da história como ciência. Aqui percebemos mais uma
vez a sua ambigüidade teórica. Enquanto Bloch falava da história
como a “ciência dos homens no tempo”[8],
Febvre nos dizia que a história é um “estudo cientificamente
elaborado” mas não uma ciência e reduzia as leis históricas
a “estas fórmulas comuns que formam séries agrupando fatos
até então separados”[9].
Concepção pobre de “lei”, que é incapaz de captar o seu caráter
de causalidade interna e necessária entre fenômenos.
Um quarto aspecto, talvez o mais fecundo dos Annales, é a
sua busca da interdisciplinaridade, a sua abertura à colaboração
com as demais ciências e disciplinas, o que redundou em uma
grande renovação nos métodos e nas técnicas do historiador. A
história aproximou-se da geografia, da estatística, da
demografia, da lingüística, da psicanálise. Articulou-se com a
sociologia, a arqueologia, a antropologia. Deu-se, também, uma
abertura para outras fontes – além dos documentos escritos –,
como a tradição oral, os vestígios arqueológicos, a iconografia,
etc. Mas esse avanço técnico e metodológico careceu de uma
renovação teórica correspondente. Mais do que uma teoria, o que
une a Escola dos Annales é o seu combate ao historicismo
positivista, factual.
A
ascensão do grupo da Escola dos Annales foi fulminante.
Em 1933, Lucien Febvre entrou no Collège de France. O
Ministério de Educação Nacional lhe confiou o projeto de uma
Enciclopédia Francesa, do qual será o secretário geral e o
diretor, contando com 600 colaboradores científicos e 200
universitários e cuja publicação iniciou em 1935. Em 1936, Marc
Bloch assumiu a cátedra de professor de História Econômica da
Sorbonne. A II Guerra Mundial interrompeu a ascensão
institucional dos Annales.
Com a queda da França, “a política anti-semítica do regime de
Vichy exigiu a retirada de Bloch da co-direção da revista. Bloch
esperava que a revista deixasse de ser publicada, prevaleceu,
porém, a vontade de Febvre de continuar com a publicação.”[10].
Em 1942, A revista trocou de nome para Mélanges d’histoire
sociale. Em 1944, Marc Bloch – engajado na Resistência – foi
capturado e fuzilado pelos alemães. Em 1946, a revista alterou
mais uma vez o seu nome para Annales: Economiés, Societés,
Civilizations.
O
pós-guerra consolidou a vinculação dos Annales com o
establishment universitário: Febvre foi convidado a
reorganizar a École Pratique des Hautes Études,
tornando-se em 1947 o presidente de sua VI Seção – dedicada às
ciências sociais – e o diretor do Centro de Pesquisas
Históricas.
Peter Burke, que não esconde a sua simpatia pelos Annales,
resume esta trajetória afirmando que “Os Annales
começaram como uma revista de seita herética. (...) Depois da
guerra, contudo, a revista transformou-se no órgão oficial de
uma igreja ortodoxa. Sob a liderança de Febvre os
revolucionários intelectuais souberam conquistar o establishment
histórico francês. O herdeiro desse poder seria Fernand Braudel”[11].
Braudel, que desde meados dos anos 40 compunha o núcleo
dirigente dos Annales, publicou em 1949 sua obra La
Méditerranée et le Monde Méditerranéen, colocando a questão
dos distintos níveis de temporalidade: 1) a curta duração dos
acontecimentos, a “história à dimensão não do homem, mas do
indivíduo, a história fatual”[12];
2) a média duração das estruturas sociais, “uma história
lentamente ritmada (...) uma história social, a dos grupos e dos
agrupamentos (...) as economias e os Estados, as sociedades e as
civilizações”[13];
3) e a longa duração das relações do homem com o meio
geográfico, “uma história quase imóvel, a do homem em suas
relações com o meio que o cerca; uma história lenta no seu
transcorrer e a transformar-se, feita com freqüência de retornos
insistentes, de ciclos incessantemente recomeçados”[14].
Em que pese o mérito de haver indicado que o tempo histórico não
é absoluto nem é homogêneo, Braudel não conseguiu articular as
diversas temporalidades, agregando suas “fatias” de
acontecimentos de acordo com sua maior ou menor lentidão. Não
compreendendo que a não linearidade do tempo histórico não se
expressa através de um esquema “por camadas”. Senão, como
compreender os “dias que valem por anos”, nos quais tanto as
estruturas, como as conjunturas e os acontecimentos, se aceleram
enormemente?
Além das debilidades teóricas da Escola dos Annales – já
abordadas anteriormente, e que não foram superadas – a visão
“braudeliana” trazia latente certo determinismo geográfico e
histórico: “Quando penso no indivíduo, sou sempre inclinado a
vê-lo como prisioneiro de um destino sobre o qual pouco pode
influir.”[15].
Também é perceptível a sua deficiência no campo da economia,
encarada mais do ponto de vista da troca e do consumo do que da
produção. Essas e outras deficiências tornaram a Escola dos
Annales presa fácil da ofensiva estruturalista e prepararam
o terreno para sua evolução no sentido da “Nova”
História, que se tornará hegemônica a partir de meados da década
de 70.
Em 1949, Braudel tornou-se professor do Collège de France
e passou a acumular, junto com Febvre, a direção do Centro de
Pesquisas Históricas na École de Hautes Études e a
direção da revista. Com a morte de Febvre, em 1956, Braudel
tornou-se o seu sucessor à frente da VI Seção da École e
o diretor dos Annales.
É
nesta fase “braudeliana” que temos a participação nos Annales
de alguns historiadores marxistas, destacadamente Ernest
Labrousse, cuja obra A crise da economia francesa no final do
Antigo Regime e no início da Revolução (1944) foi definida
por Braudel como “o maior livro de história publicado na
França nestes últimos vinte e cinco anos.”[16]
Dois anos mais velho do que Braudel, Labrousse foi extremamente
influente na historiografia por mais de cinqüenta anos. Em razão
de sua influência sobre os historiadores mais jovens, dos quais,
em muitos casos, foi o orientador de tese, pode-se dizer que
ocupou um lugar central nos Annales. Em outro sentido, porém,
ele pode ser tido como marginal ao grupo. Lecionava na Sorbonne;
seu foco de interesse era a Revolução Francesa, o evento por
excelência, e o que era mais importante, tratava-se de um
marxista.[17]
Além de Labrousse, podemos citar Michel Vovelle, Maurice Agulhon
e Pierre Vilar como historiadores marxistas que mantiveram
vínculos com os Annales.
Resumindo essa primeira fase da Escola dos Annales (1ª e
2ª gerações), podemos dizer que:
1.
Apesar de sua crítica ao empirismo e sua defesa da necessidade
de uma teoria, na prática os Annales subestimaram a
teoria e privilegiaram a questão dos métodos e das técnicas de
análise e investigação. A conseqüência foi o ecletismo, a
superficialidade teórica, a inconsistência e a atração pelo
modismo. Tendeu a rejeitar os métodos apoiados na dedução,
preferindo a síntese indutiva.
2.
Sua visão interdisciplinar caiu em vários momentos em um
tecnicismo “estatístico”, demográfico”, “quantitativista”, que
obscureceu uma visão verdadeiramente global e integrada do todo
social e caiu na especialização.
3.
Reconheceu as distintas temporalidades na história, mas não as
articulou dialeticamente, nem percebeu o fluir descontínuo
dessas temporalidades, justapondo-as um tanto mecanicamente.
4.
Sua reivindicação de uma “história total” acabou caindo em uma
visão de totalidade equivalente a um mero somatório.
5.
Cada vez mais a sua crítica à história “política”, “biográfica”
mostrou-se inconsistente. Diversos de seus historiadores
passaram a dedicar-se, em seus trabalhos históricos concretos,
às obras biográficas, até que toda preocupação com a história
“econômica e social” foi abandonada. A conseqüência foi a
ausência de qualquer teoria de “mudança social”.
Em que pese as suas deficiências, a Escola dos Annales
jogou importante papel na renovação histórica e teve um caráter
progressista:
Com todas as suas limitações, a historiografia que gravitava à
volta dos Annales, antes de 1969, ao manter, apesar de tudo, a
sua pretensão a uma visão global do social e o seu respeito à
especificidade das diferentes formações histórico-sociais,
desafiava ‘o modo culturalmente dominante de análise nas
ciências sociais que ainda prevalece na atualidade -
universalizante, empirista, que seciona o político do econômico
e estes da cultura, profundamente arrogante, etnocêntrico e
opressivo’, como foi dito por I. Wallerstein ao saudar a revista
por sua resistência a esta cultura hegemônica.[18]
II - AS TERCEIRA E QUARTA GERAÇÕES, OU A “NOVA” HISTÓRIA
A
“Nova” História propriamente dita, desenvolveu-se
fundamentalmente a partir dos anos 70, quando Braudel, Morazé e
Friedmann cederam a direção dos Annales a uma nova
equipe, formada por Le Goff, Le Roy Ladurie, Revel, Marc Ferro e
Burguière. Conservaram-se muitas características da antiga
Escola dos Annales, mas também se pode observar
importantes pontos de ruptura, sob a bandeira de “novas
abordagens, novos objetos, novos problemas”:
Em 1974 (...), já se prenunciavam as orientações de uma história
nova - la nouvelle histoire - de múltiplas facetas, hoje
predominantes nas salas de aula e nas listas editoriais. (...) A
História Política, praticamente descartada pelo movimento
historiográfico renovador dos anos 30 e 40, do tão conhecido
grupo dos Annales, historiografia essa que se apregoava
econômica, demográfica, eminentemente agrária, voltada para as
análises estruturais e regionais, também não parecia reencontrar
um lugar que lhe fosse próprio, com o destaque que merecia, na
nova história. Tratava-se e trata-se de uma história que passara
a favorecer pequenos pedaços do passado, aspectos de um
cotidiano nem sempre relevante, embora curioso, por vezes
original e até mesmo ponderável.[19]
Uma primeira característica desta “Nova” História é o
chamado “retorno à política”, que havia sido abandonada pelos
Annales em nome do combate à história fatual. Como
nos mostra Burke, esse retorno a política é na verdade uma
reação contra uma história que – mesmo de forma tênue – ainda
levava em conta os fatores estruturais de caráter social e
econômico: “O retorno à política na terceira geração é uma
reação contra Braudel e também contra outras formas de
determinismo (especialmente o economismo marxista)”[20].
Na verdade, influenciado por Foucault, esse “retorno à política”
restringiu-se em grande parte à micropolítica, à luta pelo
micro-poder na escola, na fábrica, na família, etc.
Uma segunda grande característica da “Nova” História está
no que se convencionou chamar de “viragem antropológica”, uma
mudança em direção à antropologia cultural ou simbólica, na
incorporação de suas abordagens, de muitos dos seus conceitos e
técnicas:
No momento, o modelo antropológico reina supremo nas abordagens
culturais. Rituais, inversões carnavalescas e ritos de passagem
estão sendo encontrados em todos os países e em quase todos os
séculos. O estudo quantitativo das mentalités enquanto “terceiro
nível” da experiência social nunca teve tantos seguidores.[21]
A
partir daí, abriram-se novas abordagens como a micro-história, a
história do cotidiano, a história “vista de baixo”, a história
regional (“Uma história mais sensível às diferenças regionais
do que às diferenças sociais”[22]),
etc.
Dá-se um deslocamento da “história das sociedades” para a
“história dos pequenos grupos” (as “tribos”), para uma história
dos “diferentes” dos marginalizados, dos fracos, dos vencidos.
Ao invés da realidade social, das condições reais de existência,
valoriza-se o seu avesso: os sonhos, o imaginário, o simbólico.
Privilegia-se o periférico em relação ao central. O indivíduo
passa a ser o centro da ação; o cenário, o palco, passam a um
segundo plano. Na mesma medida, proliferam e são louvados os
estudos biográficos:
O objetivo da história, portanto, não são, ou não são mais, as
estruturas e os mecanismos que regulam (...) as relações
sociais, e sim as racionalidades e as estratégias acionadas
pelas comunidades, as parentelas, as famílias, os indivíduos.
(...) a biografia constitui nesse sentido o lugar ideal para se
verificar o caráter intersticial (...) da liberdade de que as
pessoas dispõem.[23]
A
diacronia cede espaço para a sincronia. Deixa-se de trabalhar a
tridimensionalidade do tempo – o passado, o presente e o futuro.
Privilegia-se a permanência ao invés do movimento. Congela-se o
passado idealizado, já que “quando o presente frustra, o passado
conforta”. Perde-se a dimensão de construção do futuro, ao qual
se teme, e cultua-se o pessimismo.
talvez estejamos assistindo (...) ao fim da religião do
progresso, da crença no progresso (...) existe uma relação entre
a nova reticência dos anos 1960 em relação ao desenvolvimento,
ao progresso, à modernidade, e a paixão trazida pelos jovens
historiadores ao estudo das sociedades pré-industriais e de sua
mentalidade. Estes não atribuem mais à história um sentido (...)
A cultura que estudam é, então, quase tirada fora da história e
apreciada da maneira como os etnólogos estruturalistas
consideram a sociedade que escolheram.[24]
O
historiador isola um bloco de passado, do mesmo modo que um
etnólogo escolhe uma sociedade selvagem, e estuda-a, evitando na
medida do possível os problemas de origem e de posteridade. É a
etno-história.[25])
Uma outra grande vertente da “Nova” História, talvez a
sua “menina dos olhos”, é a chamada Nova História Cultural,
vista como uma verdadeira “libertação” frente ao “materialismo”
e ao “determinismo”:
Nos anos 50 e 60, os historiadores econômicos e sociais foram
atraídos por modelos mais ou menos deterministas de explicação
histórica (...) Hoje em dia (...) os modelos mais atraentes são
aqueles que enfatizam a liberdade de escolha das pessoas comuns
(...) os novos historiadores (...) foram muito bem sucedidos ao
revelar as inadequações das explicações materialistas e
deterministas tradicionais do comportamento individual e
coletivo de curto prazo, e na demonstração de que tanto na vida
cotidiana, quanto nos momentos de crise, o que conta é a
cultura.[26]
A
Nova História Cultural é tão eclética como toda a “Nova”
História, admitindo em seu seio as mais diversas tendências.
Seus postulados hegemônicos, porém, têm por norte a visão
idealista de que as estruturas culturais (mentalidades,
representações, imaginário) são as que determinam a sociedade.
Também aqui se expressa a tendência da “Nova” História de
voltar-se para o passado: “A história das mentalidades é,
portanto, muito mais a história das mentalidades de outrora, das
mentalidades não atuais.”[27]
A Nova História Cultural é examinada em mais detalhe na
terceira questão.
Outra importante característica da “Nova” História é a
sua fragmentação: “os objetos de investigação aparecem como
que isolados dos complexos mais amplos onde se realizam, onde a
idéia de totalidade é substituída pela de fragmentação, ruptura.”[28]
Há uma explosão dos novos temas: a infância, o sonho, o corpo, o
odor, a morte, o amor, a sexualidade, o medo, a culpa, o livro,
o vestuário, o casamento, a loucura, o crime, o clima, a
sujeira, a limpeza, os gestos, a fala, o silêncio, a leitura, a
raiva, a ansiedade, a doença, etc.
Por um lado, amplia-se enormemente o campo do historiador e
alguns destes estudos podem trazer certa contribuições para uma
melhor visão do todo. Mas, por outro, tende-se à atomização do
real, à perda do referencial da totalidade e ao deslocamento do
interesse para temas inócuos e politicamente desmobilizadores:
A
sociedade torna-se um fantástico caleidoscópio de micro objetos,
sem sentido, sem hierarquia causal, sem razão. Na ausência de um
sentido para a história, a preocupação com o futuro desaparece:
é o fim da história e o objeto das práticas políticas se define
a partir do cotidiano de cada um.[29]
Por fim, temos o chamado retorno à “narrativa”, outrora tão
criticada pelos Annales. A historiografia desloca-se do
objeto real para o narrativo, o literário, o textual. O valor
não está tanto no conteúdo quanto no estético. Se por um lado
isso poderia ter um aspecto positivo – o da preocupação com a
forma – por outro lado somos levados a uma subestimação do
conteúdo. A descrição prevalece sobre a interpretação: “é
provável que o ‘cosmo’ humano, como é encarado por tais
historiadores, não seja o mesmo – estruturado e explicável – em
que acreditavam os historiadores dos Annales no passado, e em
que acreditam os marxistas; e sim um cosmo contingente e
inexplicável, no qual só constatações são possíveis, mas nenhuma
explicação.”[30]
No fundo, o que está em questão é a própria cientificidade e
racionalidade do trabalho do historiador: “Tem havido uma
relutância em considerar as narrativas históricas como elas mais
manifestamente são: ficções verbais, cujos conteúdos são tão
inventados como descobertos, e cujas formas têm mais em comum
com suas contrapartidas na literatura do que na ciência.”[31]
Daí para a negação da história como ciência é um passo. Em sua
obra “Como se escreve a História”, o “novo” historiador
Paul Veyne defende a opinião de que a história não é uma
ciência, mas uma espécie de gênero literário, que se distingue
da ficção por ser escrita a partir de uma documentação
histórica. Para ele, os fenômenos sociais são singulares,
estranhos a qualquer regularidade, desprovidos de qualquer
determinação essencial ou dominante. E Georges Duby completa o
panegírico dos papas da “Nova” História ao subjetivismo
na produção histórica:
Para que serve a história? A história é, antes de mais, um
divertimento: o historiador sempre escreveu por prazer e para
dar prazer aos outros.(...) O que ele enuncia, quando escreve a
história é o seu próprio sonho (...) O historiador conta uma
história, uma história que ele forja recorrendo a um certo
número de informações concretas. (...) continuamos a utilizar
este material (...) ao serviço das nossas paixões e da ideologia
que nos domina (...) o discurso histórico continua a ser uma
forma de criação (...) a elaboração do material é sempre feita
de uma forma subjetiva. (...) a objetividade do conhecimento
histórico é um mito. (...) jamais chegaremos a uma verdade
objetiva.(...) sou céptico em relação à objetividade (...) toda
a informação é subjetiva.[32]
Resumindo as principais continuidades e rupturas da “Nova”
História com a Escola dos Annales:
1.
A
“Nova” História continua apresentando a mesma indigência
teórica que já caracterizava os Annales, disfarçada pela
absorção acrítica de terminologias e conceituações mal
assimiladas, tomadas de empréstimo de outros campos científicos,
levando ao mais grotesco ecletismo.
2.
Manteve a interdisciplinaridade tão proclamada pelo Annales,
que muitas vezes se confunde com uma especialização tecnicista.
3.
Mantendo a pluralidade de tempos braudeliana, a sua
temporalidade sincrônica tende para a longuíssima duração da
história “quase imóvel”, que conduz à noção de ausência de
mudanças. Ao mesmo tempo em que privilegia a permanência em
relação à mudança, a “Nova” História volta-se para o
passado, esquece o presente e fecha os olhos para o futuro.
4.
A
“Nova” História abandonou qualquer visão de totalidade –
mesmo que fosse a de justaposição mecânica dos Annales –,
passando a cultuar a fragmentação do real.
5.
Em nome do combate ao “determinismo econômico”, “de cunho
marxista”, a “Nova” História erigiu as mentalités
como as verdadeiras infra-estruturas determinantes do social ou
– quando não chegou a tanto – proclamou ao menos a sua autonomia
em relação às estruturas sociais e econômicas globais.
Aprofundando o afastamento das causalidades econômicas e sociais
que os Annales já haviam iniciado.
6.
O
seu “retorno à política” – rompendo com a anterior orientação
dos Annales – tem muito mais a ver com o combate às
“determinações econômicas e sociais” e com um voltar-se à
temática do “micro-poder”, do que com a história
“macro-política”.
7.
Ao questionar a existência de leis históricas e do próprio
processo histórico, ao negar a objetividade do conhecimento
histórico e a existência de verdade histórica, a “Nova”
História rompeu com a visão da história como ciência, indo muito
além das vacilações que os Annales já haviam manifestado
nesse terreno.
Concluindo, podemos dizer que é inegável a existência de uma
continuidade, em diversos aspectos e “tendências”, entre os
Annales e a “Nova” História. Temos a opinião, inclusive, de
que os Annales já tinham, em latência, muitos dos germens
de seu ulterior desenvolvimento para a “Nova” História.
Mas, também é evidente a existência de uma profunda ruptura
entre ambas – no nosso entender involutiva –, rompendo com o
caráter progressista da Escola dos Annales. Nesse sentido
comparto a opinião de Ciro F. Cardoso de que a “Nova”
História é “uma corrente retrógrada sob aparências de
novidade e ousadia”.[33]
Esse juízo de valor não significa que nada é aproveitável na “Nova”
História. Primeiro, porque, ao ser uma escola extremamente
heterogênea, são muito diversas as orientações pessoais de cada
autor. Segundo, porque mesmo historiadores com uma visão teórica
equivocada podem contribuir, em estudos concretos, para o avanço
do conhecimento histórico. O que se trata é de submeter a sua
obra a uma crítica cuidadosa – não apriorística –, resgatando o
que tenha de valor.
A
IMPORTÂNCIA TEÓRICO-METODOLÓGICA DO ESTUDO DO “COTIDIANO”
Outro exemplo de uma nova abordagem que gerou problemas de
definição é a história da vida cotidiana (...). A expressão em
si não é nova: La vie quotidienne era o título de uma
série lançada pelos editores franceses Hachette, nos anos 30
(...). Outrora rejeitada como trivial, a história da vida
cotidiana é encarada agora, por alguns historiadores, como a
única história verdadeira, o centro a que tudo o mais deve ser
relacionado.[34]
É
evidente que não compartilhamos da exagerada supervalorização do
cotidiano, que alguns historiadores da “Nova”
História lhe atribuem, a ponto de afirmarem que “A vida
cotidiana (...) está (...) no ‘centro’ do acontecer histórico; é
a verdadeira ‘essência’ da substância social”.[35]
Tampouco tem fundamento a sua pretensão de serem os
“descobridores” do cotidiano! Para não nos alongarmos,
podemos citar a obra “A Situação da Classe Trabalhadora na
Inglaterra”, escrita por Engels, em 1840, e editada em 1845,
onde, além de estudar o desenvolvimento do capitalismo e as
conseqüências da industrialização, ele faz um estudo detalhado
da vida e da luta cotidiana dos operários ingleses...
Isto posto, ao iniciarmos o exame da temática do cotidiano
(terminologia criada pela “Nova” História), a primeira
coisa que devemos fazer é precisar esse conceito bastante
ambíguo:
um exemplo disso é a temática do cotidiano. O conceito
‘cotidiano’ via de regra permanece em um nível muito impreciso –
o de ‘vida de todos os dias’ – prestando portanto escassos
serviços analíticos. Quais são os componentes significativos da
vida cotidiana? Existirá alguma forma de hierarquia entre eles,
sendo uns mais importantes que outros? Como se organizam, se
mantém e se transformam estes elementos? Que relações existem
entre os aspectos cotidianos e não-cotidianos da vida social?”[36]
Como ponto de partida, podemos definir o cotidiano como a
dimensão do “dia a dia”, do rotineiro, do habitual, do
costumeiro, do corriqueiro, do tradicional, do repetitivo, do
automático, do pragmático, do concreto, do senso comum, do
inconsciente (ou subconsciente). “O cotidiano é o humilde e o
sólido, o que se dá por suposto (...) é o que não leva data. É o
insignificante (aparentemente), ocupa e preocupa e, entretanto,
não tem necessidade de ser dito.”[37]
Por isso mesmo:
A
vida cotidiana, de todas as esferas da realidade, é aquela que
mais se presta à alienação. (...) A assimilação espontânea das
normas consuetudinárias dominantes pode converter-se por si
mesma em conformismo (...) Quanto maior for a alienação
produzida pela estrutura econômica de uma dada sociedade, tanto
mais a vida cotidiana irradiará sua própria alienação para as
demais esferas. (...) o moderno desenvolvimento capitalista
exacerbou ao extremo essa contradição.[38]
Mas, apesar da vida cotidiana estar condicionada pela
formação social em que se dá, pela estrutura e dominação de
classes existente, pela ideologia hegemônica, ela tem uma
dinâmica própria e uma relativa autonomia. É na vida cotidiana
onde se expressa com maior amplitude a chamada sociedade
civil, onde ocorrem as manifestações mais espontâneas dos
indivíduos em busca dos pequenos resquícios de liberdade e
autonomia pessoal. Aqui, são geradas manifestações
“contra-culturais”, seja nas festas, nos esportes ou no lazer,
formas de resistência e de reafirmação de sua identidade
cultural.
Os valores da vida cotidiana, mais que pensados, são
fundamentalmente vividos. Por isso mesmo, “é impossível
apreender o cotidiano como tal, aceitando-o, ‘vivendo-o’
passivamente, sem tomar distância. Distância crítica,
construção, comparação”.[39]
Assentam-se na vida material das comunidades e encarnam-se em
seus sentimentos. São tão arraigados, que a vida cotidiana
de um determinado período histórico pode sobreviver, em
muitos aspectos, em formações sociais posteriores.
Por outra parte, em uma mesma formação social coexistem várias
cotidianidades, conforme as classes e os grupos sociais
ou étnicos presentes. Mas uma delas, a imposta pela ideologia da
classe dominante, é a preponderante. Os setores explorados e
oprimidos estão condicionados, em sua existência diária, pela
maneira de ser das classes dominantes, que procuram regulamentar
por todos meios a cotidianidade, através da educação, das
convenções sociais, dos códigos civis, dos meios de comunicação.[40]
Assim, a cotidianidade – ao mesmo tempo que expressa a
alienação humana – também pode expressar formas de desalienação,
de protesto e de rebelião contra a sociedade hegemônica. As
quais, em algum momento do processo histórico, podem explodir ou
ser canalizadas por distintas vias. Como nos diz Heler, “a
vida cotidiana não é alienada necessariamente (...) mas apenas
em determinadas circunstâncias sociais.”[41]
O
estudo da vida cotidiana tem importância para que possamos
detectar quais comportamentos sociais expressam uma atitude
conformista e que setores sociais questionam o modo de vida
tradicional.
Para isso, impõe-se o emprego de uma teoria e um método de
investigação adequados, que não obscureçam a existência de
diferentes cotidianidades no interior de uma mesma
sociedade, em uma mesma época, capazes de analisar
dialeticamente – nas suas recíprocas influências – este “diário
viver” que desborda a economia e a política, tem incidência
sobre elas e ao mesmo tempo sofre as suas influências.
Para alguns, o estudo da cotidiano levanta um sério
problema epistemológico, pois ao ser a dimensão do “sentido
comum”, não seria totalmente apreensível pelo pensamento
científico: “considero o paradigma da ciência ao mesmo tempo
indispensável e insuficiente para o conhecimento do cotidiano
(...) insuficiente porque ignora, por um lado, o estatuto do
senso comum, da experiência imediata como uma forma de
conhecimento e, por outro, como forma de pensamento por
excelência da vida cotidiana.”[42]
Sobre esta questão, que não é o centro da nossa discussão, penso
que devemos relativizar essa “dificuldade” do pensamento
racional apreender o cotidiano. Por um lado, porque,
mesmo que aceitemos que o cotidiano é o locus do
senso comum, do mítico, do imaginário, isso não é impedimento
para o seu estudo científico e racional, pois o simbólico também
faz parte do real. Por outro, porque essa visão do racional como
um conhecimento que se constrói em “oposição” ao senso comum, em
“ruptura” com o conhecimento prático, é bastante questionável (“para
Bachelard (...) ‘a ciência se opõe absolutamente à opinião’. O
senso comum, a experiência imediata, o conhecimento espontâneo
são opiniões, formas falsas de conhecimento, com as quais é
necessário realizar uma ruptura”).[43]
Por uma parte, porque a epistemologia marxista considera o
conhecimento imediato como o ponto de partida de qualquer
conhecimento científico – construído na dialética do concreto e
do abstrato. Por outra, porque autores como Boaventura Santos
propõem o reencontro da ciência com o saber comum, em uma “ruptura
da ruptura epistemológica”, criando “um senso comum
esclarecido e uma ciência prudente”.
Encarado com esses cuidados, o estudo do cotidiano pode
prestar importantes serviços ao historiador, desde que não
caiamos no empirismo, no estudo do detalhe de como eram “as
carruagens”, “as vestimentas” ou “os penteados” de determinada
época... Não se trata de fazer uma história por separado dos
distintos aspectos da cotidianidade, mas de analisá-los
globalmente, para ver como incidem nas transformações sociais ou
na manutenção da ordem estabelecida:
O
projeto é (...) que estes fatos, em aparência informes, entrem a
fazer parte do conhecimento e sejam agrupados não
arbitrariamente, mas de acordo com conceitos e uma teoria.
Muitos dos passos adiante no conhecimento não têm sido,
porventura, devidos à ‘recuperação’ (...) de fatos bem
conhecidos e, entretanto, mal avaliados, dispersos, ao mesmo
tempo familiares e desdenhados, apreciados segundo ‘valores’,
isto é, segundo ideologias rebatíveis? O trabalho (Marx), o sexo
(Freud)?[44]
Infelizmente, o que prevalece em alguns “historiadores do
cotidiano” é uma visão a-histórica, fragmentária, desligada
da realidade social, centrada nos indivíduos, imóvel: “igualmente
difícil de descrever ou analisar é a relação entre as estruturas
do cotidiano e a mudança. Visto do seu interior, o cotidiano
parece eterno.”[45]
Por isso, são justificadas as críticas de Silvia Petersen a esse
modelo de “história do cotidiano”:
escassa reflexão teórica dos estudos sobre a vida cotidiana,
geralmente descritivos (...) caráter fortemente empírico dos
estudos sobre o cotidiano (...) em geral centrados no sujeito e
sua ação, nos fenômenos minúsculos, nas dimensões simbólicas do
mítico, do imaginário, do irracional (...) as análises
micro-orientadas, acabam por tornar-se micro-centradas,
desconhecendo o contraponto das condições estruturais e o
objetivismo estrito cede lugar a um subjetivismo que não se
reconhece como tal.[46]
A guisa de conclusão sobre esse ponto, podemos dizer
que a história sobre os fatos do cotidiano – que “lançam
uma luz particular sobre uma realidade global”[47]
– pode ser um instrumento importante nas mãos do historiador,
desde que manejada com clareza teórica e correção metodológica.
A
NOVA HISTÓRIA CULTURAL
O desenvolvimento político, jurídico, filosófico, religioso,
literário, artístico, etc., baseia-se no desenvolvimento
econômico. Mas todos eles reagem, também, uns sobre os outros e
sobre a infra-estrutura econômica. Não se trata de que a
situação econômica seja a causa, o único elemento ativo, e que o
resto sejam efeitos puramente passivos.[48]
nunca cheguei a parte alguma que se aproximasse da essência de
qualquer coisa sobre a qual escrevi (...). A análise cultural é
intrinsecamente incompleta. E, pior ainda, quanto mais se
aprofunda, menos completa se torna.[49]
A
Nova História Cultural desenvolveu-se na França, a partir
da década de 70, com a chamada terceira geração da Escola dos
Annales, onde se destacam Duby, Le Goff, Vovelle e outros.
Na Inglaterra costuma-se citar Natalie Davis e Thompson; na
Itália, Ginzburg. Sua marca é uma maior preocupação com as
questões culturais: “No correr dos anos 60 e 70, porém, uma
importante mudança de interesses ocorreu. O itinerário
intelectual (...) transferiu-se da base econômica para a
‘superestrutura’ cultural, do ‘porão ao sótão’.”[50]
A
diferença da História Cultural Tradicional – mais
preocupada com as manifestações artísticas e intelectuais cultas
– esses autores irão ampliar o conceito de cultura para as mais
diferentes representações simbólicas e práticas (rituais,
festas, folguedos), aproximando-se da antropologia, da
lingüística, da etnografia, do folclore. Mais do que com “a
obra” irão preocupar-se com o processo de sua criação
Deve-se a Nova História Cultural uma revalorização da
cultura popular e da cultura oral, o estudo das permanências,
em uma perspectiva de longa duração, com seu
caráter de “resistência”, resgatando os fenômenos que
persistiram nas sociedades. Por isso mesmo, talvez, predominem
as obras voltadas para o passado distante, especialmente
medieval, do que as voltadas para o presente. Preocupadas mais
com o que é imóvel, com os arquétipos que persistem em uma
longuíssima duração (morte, medo, etc.), do que com a
mudança
Mantendo a tradição dos Annales, a Nova História
Cultural adota a mais ampla diversidade de métodos,
conceitos e temas, agregando as mais variadas tendências
teóricas, beirando o ecletismo. Estratégia que favorece o poder
de aglutinação da escola. Convivem, lado a lado, autores
preocupados com uma perspectiva microscópica, fragmentária do
social e autores voltados para uma visão macroscópica da
realidade. Autores que enfatizam a ligação da cultura com os
aspectos sócio-econômicos da realidade – a chamada História
Sócio-Cultural – e autores que consideram que as idéias são
o determinante na história, como fica claro no trecho abaixo de
Desan:
A
obra de Davis (...) complementa a abordagem francesa por
utilizar, maciçamente, a antropologia simbólica e enfatizar o
papel determinante e fundamental dos fatores culturais, em
detrimento dos fatores climáticos, geográficos ou
sócio-econômicos. (...) Davis e Thompson deram ênfase a uma
mesma idéia central - o papel decisivo da cultura como força
motivadora da transformação histórica. (...) tanto Davis como
Thompson caminharam para um método que enfatiza os elementos
culturais sobre os de natureza sócio-econômica.[51]
Também é característica da Nova História Cultural a
indefinição e a ambigüidade de seus conceitos chaves –
“mentalidades”, “imaginário”, “representações”, “cultura” –,
muitos dos quais retirados de outras disciplinas (antropologia,
psicanálise, semiologia, lingüística), sem suficiente tratamento
teórico e crítico:
Todavia, o novo paradigma também tem seus problemas: problemas
de definição, problemas de método, problemas de explicação (...)
se a cultura popular é a cultura do “povo”, quem é o povo? (...)
Uma noção ampla de cultura é central à nova história (...)
Contudo, se utilizamos o termo em um sentido amplo (...) o que
não deve ser considerado como cultura?[52]
Essa “extrapolação” de certos conceitos de outras ciências
envolve diversos riscos. Um exemplo é o uso dos conceitos da
psicanálise – utilizáveis para fenômenos individuais – para
tentar explicar os fenômenos coletivos. Outro é o exame
“anacrônico” dos sentimentos do passado, sob um enfoque
contemporâneo (para Duby, a solução está em sentir-se como no
passado).
Por tudo o que já examinamos até aqui – e apesar de que haja
quem diga o contrário – podemos afirmar sem sombra de dúvida que
a Nova História Cultural é uma das vertentes básicas da
chamada “Nova” História, que tem como marca registrada a
primazia cada vez maior na explicação histórica dos aspectos
“culturais” sobre os aspectos sócio-econômicos. Aliás, é o
insuspeito Lynn Hunt quem nos afirma isso:
[para] os historiadores franceses da terceira geração dos
Analles (...) o clima, a biologia e a demografia dominavam a
longa duração juntamente com as tendências econômicas; as
relações sociais, mais nitidamente sujeitas às flutuações da
conjoncture (...), constituíam uma segunda ordem de realidade
histórica; e a vida política, cultural e intelectual
configuravam um terceiro nível, extremamente dependente, de
experiência histórica. A interação entre o primeiro e o segundo
nível assumia a primazia. (...) À medida que a quarta geração
(...) passou a preocupar-se cada vez mais com as (...)
mentalités, a história econômica e social sofreu um recuo (...)
Os historiadores da quarta geração dos Annales (...) rejeitam a
caracterização de mentalités como parte do chamado terceiro
nível da experiência histórica. Para eles, o terceiro nível não
é de modo algum um nível, mas um determinante básico da
realidade histórica. Como afirmou Chartier, ‘a relação assim
estabelecida não é de dependência das estruturas mentais quanto
a suas determinações materiais. As próprias representações do
mundo social são os componentes da realidade social’. As
relações econômicas e sociais não são anteriores às culturais,
nem as determinam.[53]
O
longo trecho citado nos permite uma análise bastante rica. Em
primeiro lugar, nos mostra uma clara identidade entre a “Nova”
História e a Nova História Cultural. Em segundo lugar,
desmentindo aqueles que queriam ver em uma anterior primazia
do econômico e do social uma influência marxista, deixa
clara a compreensão esquemática e “economicista” da
Escola do Annales quanto a essa questão, a ponto de
dissociar em dois níveis diferentes o econômico e o social. O
que nada tem a ver com a visão marxista dos “modos de produção”,
unidade indissolúvel entre o econômico e o social.
Em terceiro lugar, coloca em um distante segundo plano qualquer
preocupação com a base econômica e social da realidade, e erige
as estruturas mentais (mentalités, imaginário,
representações) como o determinante básico da realidade
histórica. Em uma clara afirmação de fé idealista, chega ao
ponto de declarar que As próprias representações do mundo
social são os componentes da realidade social!
Ao invés de nos surpreender, esta postura deve ser vista como
uma das características da vertente hegemônica na “Nova”
História atual. É George Duby, um de seus expoentes máximos,
quem nos diz: “uma sociedade não se explica unicamente pelo
material, mas nela intervém de uma forma igualmente
determinante, e por vezes até mais determinante, fatores que
relevam do mental, da idéia, da representação ideológica. (...)
aquilo que as pessoas têm no espírito e que determina o seu
comportamento.”[54]
Como sempre acontece, o questionamento do chamado
determinismo econômico costuma encobrir a defesa de outro
determinismo – de caráter idealista!
No que diz respeito a “novidade” ou não dessa abordagem
“cultural” da história, pensamos que esta também é uma pretensão
descabida dos chamados “novos” historiadores. Na verdade, desde
que escreve História, o homem se preocupou com as questões que
dizem respeito à cultura e às idéias morais, religiosas,
jurídicas, filosóficas, artísticas das distintas sociedades.
Para ficarmos somente no campo do marxismo – presunçosamente
acusado de “ignorar o papel da cultura e das idéias na história”
– lembraremos, já no século passado, os inúmeros trabalhos de
Marx, Engels, Plekhanov, Lenin, Mao, sobre a Filosofia, a
Religião, a Arte, a Literatura, (“A Ideologia Alemã”, “A Questão
Judaica”, “O Cristianismo Primitivo”, “Anti-Dühring”, “A Arte e
a Vida Social”, etc.). Ou a frutífera polêmica em torno da arte
– travada nos anos 1935-1940 – entre intelectuais marxistas do
porte de Lukács, Ernst Bloch, Brecht, Benjamin!
Aliás, em inúmeras ocasiões Marx e Engels chamaram a atenção
para o importante papel desempenhado pelas superestruturas
ideológicas na história e para a sua relativa autonomia:
Segundo a concepção materialista da história, o fator que, em
última instância determina a história é a produção e a
reprodução da vida real. Nem Marx nem eu afirmamos, uma vez
sequer, algo mais do que isso. Se alguém o modifica, afirmando
que o fato econômico é o único fato determinante,
converte aquela tese numa frase vazia, abstrata e absurda. A
situação econômica é a base, mas os diferentes fatores da
superestrutura que se levanta sobre ela – as formas políticas da
luta de classes e seus resultados, as constituições que, uma vez
vencida uma batalha, a classe triunfante redige, etc.; as formas
jurídicas, e inclusive os reflexos de todas essas lutas reais no
cérebro dos que nelas participam, as teorias políticas,
jurídicas, filosóficas, as idéias religiosas e o desenvolvimento
ulterior que as leva a converter-se em um sistema de dogmas –
também exercem sua influência sobre o curso das lutas históricas
e, em muitos casos, determinam sua forma como fator
predominante. Trata-se de um jogo recíproco de ações e reações
entre todos esses fatores, no qual, através de toda uma infinita
multidão de acasos (isto é, de coisas e acontecimentos cuja
conexão interna é tão remota ou tão difícil de demonstrar que
podemos considerá-la inexistente ou subestimá-la), acaba sempre
por impor-se, como necessidade, o movimento econômico.[55]
Significa que, por sua postura predominantemente idealista e
“pretensiosa”, a chamada Nova História Cultural seja
estéril e não traga nenhuma contribuição para a ciência
histórica? De forma alguma. Isso seria uma maneira simplista de
tratar a questão. Nunca é demais recordar que Hegel, apesar de
ser um idealista, deu contribuições inestimáveis ao
desenvolvimento da dialética.
Do que se trata é ter uma postura crítica em relação aos seus
equívocos teóricos e buscar “filtrar” o que há de racional e
científico em suas contribuições.
Nesse sentido, como já afirmamos no início, entendemos que a
Nova História Cultural, eliminados os seus exageros e
aprimorados os seus fundamentos teóricos e conceituais, pode
contribuir para uma melhor compreensão dos fenômenos ideológicos
e culturais, muitas vezes descurados por historiadores –
marxistas ou não – mais preocupados com outros aspectos do
social ou com uma visão “economicista” e “mecanicista” da
história, portanto redutora.
NOTAS
[1]
BURKE, P. A Escrita da História: novas
perspectivas. SP: Edunesp, 1992, p. 10.
[2]
PETERSEN, S. Algumas interrogações
sobre as tendências recentes da historiografia
brasileira: a emergência do “Novo” e a crítica ao
racionalismo LPH: Revista de História, V.3, N.1,
1992, p. 111.
[3]
BURKE, P. A Escola dos Annales
1929-1989: A revolução francesa da historiografia.
SP: Unesp, 1992, p. 68.
[4]
FONTANA, J. Ascenso y decadencia da la
Escuela de los “Annales”. In Hacia una Nueva
História. Madrid: Akal, 1976, p. 111.
[5]
BLOCH, M. Combats pour l’Histoire.
Apud LE GOFF. A História Nova. SP: Martins
Fontes, 1990, p. 28.
[6]
FEBVRE, L. Combats pour l’Histoire.
Apud FONTANA, J. Op.Cit., p. 112.
[7]
FONTANA, J. Op. Cit., p. 113.
[8]
BLOCH, M. Introducción a la história.
Apud Fontana, J. Op. Cit., p 111.
[9]
Febvre, L. Combats pour l’Histoire.
Apud Fontana, J. Op. Cit., p.111.
[10]
BURKE, P. A Escola dos Annales,
nota 25, p. 39.
[11]
BURKE, P. A Escola dos Annales, p.
43.
[12]
BRAUDEL, F. Escritos sobre a História.
S.P.:Editora Perspectiva, 1978, p. 14.
[13]
BRAUDEL, F. Idem, p. 14.
[14]
BRAUDEL, F. Idem, p. 13-14.
[15]
BRAUDEL, F. La Méditerranée e le monde
méditerranéen à l’époque de Philippe II. Apud BURKE,
P. A Escola dos Annales, p. 53.
[16]
BRAUDEL, F. Escritos sobre a História.
Apud, BURKE, P. A Escola dos Annales, pp. 68-69.
[17]
BURKE, P. A Escola dos Annales, p.
67.
[18]
CARDOSO, C. Ensaios Racionalistas.
RJ: Campus, 1988. p. 98.
[19]
LINHARES, M. Apresentação. In:
RÉMOND, R. Por que a História Política? Estudos
Históricos, RJ, V. 7, n. 13, 1994, p. 8.
[20]
BURKE, P. A Escola dos Annales.
SP: Unesp, 1991, p. 103.
[21]
HUNT, L. A Nova História Cultural.
SP: Martin Fontes, 1992, p. 14.
[22]
ARIÉS, P. A História das Mentalidades.
SP: Martin Fontes, 1993, p. 170.
[23]
CHARTIER, R. A História Hoje: dúvidas,
desafios, propostas. Estudos Históricos, RJ, V. 7,
n. 13, 1994, p. 102.
[26]
BURKE, P. A Escrita da História,
pp. 31-35.
[27]
CHARTIER, R. Op. Cit., p. 172.
[28]
PETERSEN, S. Op. Cit., p. 118.
[30]
CARDOSO, C. Op. Cit., p. 108.
[31]
CHARTIER, R. Op. Cit., p. 110.
[32]
DUBY, G. O Historiador Hoje. In:
História e Nova História. Lisboa: Teorema, 1986,
pp. 11-14.
[33]
CARDOSO, C. Op. Cit., p. 94.
[34]
BURKE, P. A Escrita da História,
p. 23.
[35]
HELER, A. Estrutura da Vida Cotidiana.
In: O Cotidiano e a História. RJ, Paz e Terra,
1992, p. 20.
[36]
PETERSEN, S., Op.Cit., p. 112.
[37]
LEFEBVRE, H. La vida cotidiana en el
mundo moderno. Madrid: Alianza, 1980, p. 36.
[38]
HELER, A., Op. Cit., p. 37-39.
[39]
LEFEBVRE, H. Op.Cit., p. 39.
[40]
VITALE, l. Introducción a una Teoria
de la História para América Latina. Buenos Aires:
Planeta, 1992, pp. 303-305.
[41]
HELER, A., Op.Cit., p. 39.
[42]
PETERSEN, S. O cotidiano como objeto
teórico ou o impasse entre ciência e senso comum no
conhecimento da vida cotidiana. Mimeografado, p. 6.
[43]
PETERSEN, S., Op. Cit., p. 6.
[44]
LEFEBVRE, H., Op. Cit., p. 39.
[45]
BURKE, P. A Escrita da História,
p. 24.
[46]
PETERSEN, S., Op. Cit., pp. 1-2.
[47]
LEFEBVRE, H. Op. Cit., pp. 33-34.
[48]
ENGELS, F. Carta a Starkenburg,
25/1/1894. In: Obras Escolhidas de Marx e Engels.
RJ: Ed.Vitória, 1961 V.3, p. 299.
[49]
GEERTZ, C. The Interpretations of
Cultures. Apud HUNT, L. A Nova História Cultural.
SP: M.Fontes, 1992. p. 106.
[50]
BURKE, P. A Escola dos Annales.
SP: Unesp, 1991, p. 81.
[51]
DESAN, S. Massas. Comunidade e Ritual
na Obra de E.P.Thompson e Natalie Davis. In: HUNT,
L. A Nova História Cultural. SP: M.Fontes, 1992,
pp. 65-69.
[52]
BURKE, P. A Escrita da História,
pp. 20-23.
[53]
HUNT, L. A Nova História Cultural,
SP: M.Fontes, 1992, p. 4, pp. 8-9.
[54]
DUBY, G. O Historiador hoje. In:
História e Nova História. Lisboa: Teorema, 1986,
p. 9.
[55]
ENGELS, F. Carta a Bloch - 21/22 de
setembro de 1890. In: Op. Cit, p. 284.